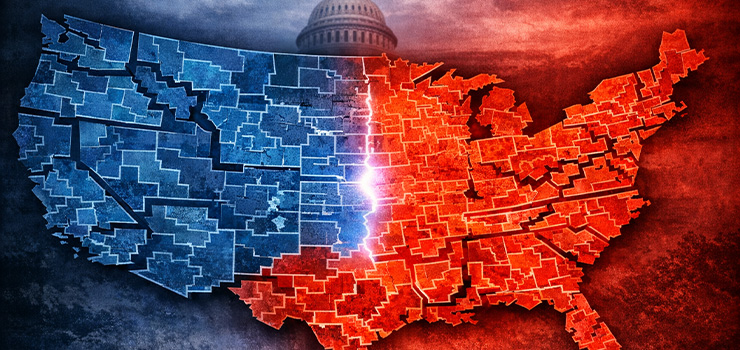A violência repressora, que no regime dos aiatolás é permanente, cresceu exponencialmente nos últimos dias, como indicado por vários organismos internacionais de Direitos Humanos. O próprio regime já declarou que mais de 2.000 pessoas foram mortas pelas forças de segurança dos aiatolás em decorrência dos atuais protestos, o que leva a crer que o número de vítimas é bem maior.
A brutalidade com que o regime iraniano está massacrando os manifestantes que ousam se sublevar contra a odiosa teocracia não é um desvio ocasional passível de ser contido por sanções econômicas; é a expressão da sua própria essência. Notas de repúdio da comunidade internacional (que o Brasil, para surpresa de ninguém, não se dignou a emitir) são bem-vindas, mas ineficazes. É preciso ação, é preciso uso da força contra os que há décadas a têm usado para oprimir seu povo. Até porque a violência perpetrada pelo Irã ultrapassa fronteiras, sendo um problema global.
O regime que espanca mulheres sem hijabe nas ruas de Teerã é o mesmo que sustenta os terroristas houthis no Iêmen, que fornece drones à Rússia para bombardear a Ucrânia, que foi pilar logístico, militar e financeiro do regime de Bashar al-Assad e que ordenou, financiou e armou o grupo terroristas Hamas para o terrível massacre contra israelenses, em 7 de outubro de 2023.
Os atuais protestos no Irã não são apenas uma explosão episódica de descontentamento econômico, embora os comerciantes, costumeiros aliados do regime, tenham se juntado às mulheres e aos estudantes na linha de frente dos protestos. O protagonismo feminino não é mera contingência. Ao desafiarem abertamente as leis do véu, ao queimarem símbolos do regime, ao ocuparem as ruas mesmo sabendo que o preço pode ser a prisão, a tortura ou a morte, as mulheres iranianas estão expondo a natureza essencialmente opressora da República Islâmica e deixando claro o que querem: liberdade.
A coragem das mulheres iranianas deixa à mostra a covardia dos que se dizem progressistas enquanto fecham os olhos para as atrocidades cometidas pelo regime islâmico; é constrangedor para intelectuais de esquerda falar sobre os acontecimentos no Irã porque eles se chocam com as suas tentativas hipócritas de romantizar o regime dos aiatolás. O silêncio — quando não a cumplicidade explícita — de amplos setores da esquerda diante da atual repressão remete a uma relação antiga.
A esquerda e a Revolução Islâmica de 1979
Desde a Revolução Islâmica de 1979, parte significativa da esquerda ocidental decidiu ver no Irã não uma teocracia totalitária, mas um símbolo de resistência ao chamado “imperialismo”.
A revolução iraniana de 1979 pôs fim ao regime do xá Mohammad Reza Pahlavi, uma monarquia autocrática pró-Ocidente. Com amplo apoio popular e viés fortemente religioso, essa rebelião teve, desde o início, influência do clero xiita, comandado do exterior pelo exilado aiatolá Ruhollah Khomeini. Após a vitória da revolução, fundada a República Islâmica do Irã, o clero xiita, tendo Khomeini como líder supremo, estabeleceu uma autocracia muito mais violenta do que jamais fora a monarquia de Mohammad Reza Pahlavi .
O novo regime implementou uma teocracia autoritária com repressão intensa, incluindo execuções em massa de opositores (milhares nos primeiros anos), prisões políticas e consolidação de poder via Guarda Revolucionária, superando em escala imediata a brutalidade da SAVAK sob o xá, que já era notória por torturas e assassinatos. O chamado “regime dos aiatolás” caminhou então a passos largos para se tornar um dos mais perseguidores, cruéis e criminosos regimes do mundo, sob o beneplácito da esquerda anti-ocidental.
O engajamento entusiasmado de pensadores como Michel Foucault, que interpretou a revolução iraniana como uma experiência espiritual e antimoderna capaz de fazer frente aos valores do Ocidente, foi apenas o exemplo mais conhecido dessa cegueira voluntária que não deixa de ser uma perversão moral. As mulheres, os dissidentes, os homossexuais — todos foram sacrificados no altar do anti-imperialismo abstrato.
Essa herança intelectual não desapareceu. Ela se atualiza hoje no relativismo cultural, no pós-colonialismo militante e na política identitária que seleciona vítimas e algozes de acordo com conveniências ideológicas. Um regime que grita “morte à América” e “morte a Israel” pode assassinar seus próprios cidadãos sem despertar a indignação proporcional daqueles que se dizem defensores universais dos direitos humanos.
No Brasil, essa dissonância assume contornos graves. O atual governo mantém relações cordiais e politicamente engajadas com o Irã, em nome de uma diplomacia que se autoproclama “multipolar”, mas que, na prática, normaliza regimes abertamente repressivos. O fato de o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, ter sido enviado, em 2024, para representar o governo brasileiro na posse do presidente iraniano Masoud Pezenshkian, não foi um detalhe protocolar irrelevante, mas um gesto político de alinhamento. Também é eloquente o silêncio oficial do Itamaraty diante do massacre de civis iranianos na atual onda de protestos.
As mulheres iranianas, desarmadas diante de um Estado brutal, tornaram-se uma pedra de toque para qualquer discurso sobre liberdade, justiça e direitos humanos. As ruas do Irã hoje, com corpos empilhados em sacos e sob ameaça de mais execuções, expõem não apenas a malignidade da teocracia dos aiatolás, mas também a falência moral e hipocrisia do Ocidente dito progressista com seus governos que se dizem democráticos.