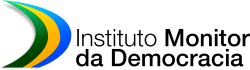O ataque com drones feito pelo Irã contra Israel apenas dá um contorno mais evidente a um conflito que se estende através das décadas. Ele apenas vem sendo travado de forma terceirizada por uma das partes. É de conhecimento notório o financiamento prestado pelo regime dos Aiatolás aos grupos terroristas que tem como objetivo varrer o Estado Judeu do mapa. A ação do Hamas ocorrida em outubro de 2023 ao sul de Israel foi arquitetada com apoio financeiro e logístico de Teerã, que lhe fornece recursos e armamentos.
Um relatório feito pelo site Homeland Security Today, especializado em segurança, aponta o nível de comprometimento do Irã com as atividades do Hamas e de outras organizações sediadas em países como Síria, Líbano e Iraque. Por meio dessa rede, criou-se um verdadeiro cerco a Israel. Segundo a Foundation for Defense of Democracies, o Irã gasta mais de 16 bilhões de dólares anualmente apoiando grupos terroristas e regimes ditatoriais extremistas em outros países. Desse total, cerca de 800 milhões são para o Hezbollah e outros 100 milhões se dividem entre o Hamas e a Jihad Islâmica palestina.
A aproximação de Israel com a Arábia Saudita e outras nações Árabes certamente causou apreensão entre o líderes iranianos, que, temendo o isolamento na região, agiram para tentar impedir a viabilidade dos acordos que estavam sendo desenhados. E nesse particular foram efetivos. A escalada de violência obedece essa lógica, incluindo o ataque do Hamas e agora o envio dos drones. A instabilidade impede o diálogo e obriga Israel a tomar providências que lhe afastam de uma aproximação com países islâmicos.
O Irã justificou seu ataque como uma resposta ao bombardeio israelense ao que seria o consulado do país em Damasco. Na operação militar, ocorrida no início de Abril, as Forças de Defesa de Israel mataram vários membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, incluindo Mohammed Reza Zahedi, personagem central na articulação do Irã com a rede de organizações terroristas. As potenciais ocidentais já sabiam que haveria reação, inclusive porque isso fora antecipado pelo próprio Ali Khamenei, líder supremo do Irã. O que talvez não se imaginava era o quão audaciosa ela seria.
As imagens de drones e mísseis sendo interceptados nos céus de Jerusalém é assustadora, ao mesmo tempo que inédita. A cidade que deu origem para três das maiores religiões do mundo sempre foi preservada nos conflitos frequentes que assolama região. Não mais. Se o sistema de defesa de Israel não fosse suficientemente eficiente, o fogo e a destruição se espalhariam no local sagrado, e talvez corpos se avolumassem até mesmo diante do Muro das Lamentações. E isso apenas denota a deterioração das relações geopolíticas no Oriente Médio, que parece caminhar para um conflito muito mais amplo do que apenas na Faixa de Gaza.