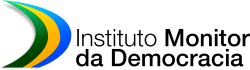“Em _____, um grupo de ____homens fortemente armados e vestidos de preto entrou em um _____ em _______ e matou _____ pessoas. Os atacantes foram filmados gritando “Allahu akbar!”. Em entrevista coletiva à imprensa, o presidente _____ disse: “Condenamos esse ato criminoso de extremistas e sua tentativa de justificar seus atos violentos em nome de uma religião pacífica não terá êxito. Condenamos igualmente aqueles que queiram usar essa atrocidade como pretexto para crimes de ódio islamofóbicos”.
É assim que começa o livro Herege: Por que o Islã precisa de uma reforma imediata, da ex-muçulmana, ex-ateia e agora cristã, Ayaan Hirsi Ali. A lacuna no nome do lugar, no número de assassinos e no de vítimas deve-se à grande quantidade de casos semelhantes. O leitor pode preencher as lacunas com o caso mais recente do noticiário.
Após relembrar alguns atentados, a autora escreve que há mais de treze anos vem defendendo um argumento simples em resposta a atos terroristas como estes: “Afirmo que é tolice insistir, como fazem habitualmente nossos líderes, que os atos violentos dos islamitas radicais podem ser dissociados dos ideais religiosos que os inspiram. Temos de reconhecer que eles são movidos por uma ideologia política, uma ideologia com raízes no próprio islã, no livro santo do Alcorão e na vida e ensinamentos do profeta Maomé descritos no hadith.”
A ex-muçulmana diz, com todas as letras, aquilo que os progressistas ocidentais e seus líderes insistem em negar: “Deixo claro o meu ponto de vista nos termos mais simples possíveis: o islamismo não é uma religião pacífica.”
Na contramão das susceptibilidades multiculturalistas que se melindram com esse tipo de argumento “insensível”, Hirsi Ali expõe em seu livro “a ideia de que a violência islâmica não tem raízes em condições sociais, econômicas ou políticas — e nem mesmo em erro teológico —, e sim nos textos fundamentais do próprio islamismo.” Por defender isso, ela foi silenciada, execrada e humilhada não só por muçulmanos, mas também por alguns militantes progressistas e apologistas ocidentais do Islã.
Por inúmeras razões, parte do Ocidente está mais preparado para ser subjugado pelo Islã e padecer sob a espada de Maomé do que para aceitar essa afirmação. Prova disso é que as declarações de Hirsi Ali suscitaram críticas tão veementes que parecia ter sido ela a autora de atos de violência: “pois hoje parece ser crime falar a verdade sobre o islã”, explica Ali. “´Discurso de ódio´é o termo moderno para heresia. E no clima atual, qualquer coisa que faça os muçulmanos se sentirem incomodados é rotulada de ódio.”
Não cabe aqui nesse contexto fazer uma resenha do referido livro, o qual indico como uma leitura atual e importante. Apenas citei a sua tese inicial à guisa de introdução para comentar o último atentado que ocorreu em Paris, em 02 de dezembro, nas proximidades da torre Eiffel.
Um homem de 26 anos matou com uma faca um jovem turista germano-filipino e depois atacou mais duas pessoas com um martelo. Assim como os terroristas do Hamas ao metralharem os jovens da festa rave em Israel e assim como tantos outros terroristas, o assassino Armand Rajabpour-Miyandoab gritou Allahu Akbar antes de esfaquear sua vítima.
Mas o nome verdadeiro do assassino não é Armand. Um documento, apresentado como extrato do diário oficial de 22 de março de 2002, contendo o decreto de naturalização de membros da família do agressor, circulou amplamente no X (antigo Twitter). Neste documento, o homem é referido como Iman Rajabpour-Miyandoab. Uma fonte policial confirmou à imprensa que o primeiro nome do terrorista foi mudado em 2003, quando ele tinha seis anos.
Iman ou Armand, é filho de iranianos, converteu-se ao Islã na juventude e já planejou um ataque terrorista em 2016, pelo qual foi condenado a cinco anos de prisão. O agressor francês de origem iraniana estava ligado a vários terroristas, incluindo os assassinos de Samuel Paty (um professor morto em 16 de outubro de 2020 perto do colégio Conflans-Sainte) e de Jacques Hamel (padre que teve a garganta cortada no dia 26 de julho de 2016, ao final de uma missa diante de três freiras e um casal de paroquianos).
Armand também manteve contacto com um jihadista francês que partiu para a Síria e era antigo membro do grupo Forsane Alizza, célula terrorista dissolvida em 2012, que defendia a jihad armada e queria “estabelecer um califado” na França.
Nesse último atentado insere-se também o contexto da guerra Israel-Hamas. Segundo o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, além de gritar “Allahu akbar”, o assassino disse à polícia não tolerar mortes de muçulmanos em Gaza.
Uma reportagem do jornal Le Figaro fez um levantamento: o turista alemão morto em Paris é a 274ª vítima de um ataque islâmico, desde 2012 na França, período no qual ocorreram 26 ataques islâmicos fatais, oito deles após 2020.
Eis a lista macabra:
2012: 3 ataques fatais (7 mortos)
2015: 6 ataques fatais (150 mortos)
2016: 3 ataques fatais (89 mortos)
2017: 2 ataques fatais (3 mortes)
2018: 3 ataques fatais (10 mortos)
2019: 1 ataque fatal (4 mortos)
2020: 4 ataques fatais (7 mortes)
2021: 1 ataque fatal (1 morte)
2022: 1 ataque fatal (1 morte)
2023: 2 ataques fatais (2 mortes)
A mídia francesa vem, compreensivelmente, dando grande repercussão ao ocorrido. O diretor de redação do jornal Le figaro, Vincent Trémolent de Villers, escreveuem editorial de 03 de dezembro:
“A França é um país onde existe o risco de morrer por uma facada a qualquer hora, a qualquer hora, em qualquer lugar. […] A frouxidão migratória, a desintegração cultural, a delinquência sistêmica, o jihadismo atmosférico e a fraqueza judicial estão interligados. Nesta França, o carrasco lamenta-se como vítima e a vítima, dano colateral do grande projeto multicultural, é rapidamente esquecida. Quem se lembra das jovens cujas gargantas foram cortadas há seis anos na estação Saint Charles? Ou do homem assassinado por um refugiado sudanês enquanto abria a janela em total confinamento?”
A preocupação, porém, do coordenador do partido de extrema esquerda, La France insoumise, Manuel Bompard, não é evitar novos atentados terroristas islâmicos, mas evitar que se dê uma interpretação inadequada a eles: “Vejo claramente que, por exemplo, a questão da loucura deste indivíduo parece estar completamente retirada de questão e, no entanto, parece-me que este é um dos assuntos que terá de ser examinado após esta tragédia”, registrou o coordenador insoumise.
Para Bompard, o ataque com faca que custou a vida a um turista alemão em Paris foi apenas o ato de “uma pessoa claramente desequilibrada” para o qual não se pode “dar significado político geral.”
Jean-Luc Mélenchon, líder do La France insoumise, também manteve suas considerações limitadas ao perfil psiquiátrico do assassino, sem mencionar as suas motivações terroristas. Tratar-se ia apenas de um homem com distúrbios psiquiátricos que interrompeu seu tratamento medicamentoso: “É hora de percebermos as consequências do colapso do sistema psiquiátrico! Cuidados, monitoramento e confinamento médico são urgentes para diminuir o dano deste tipo de pessoa”, acrescentou o três vezes candidato presidencial.
Pouco antes do ataque o agressor, que consta na lista policial de radicalização islâmica, assumiu a responsabilidade pelo ataque evocando em um vídeo as notícias, o governo e o assassinato de muçulmanos inocentes. Na hora do assassinato ele gritou “Allahu Akbar”. Mesmo assim, uma vertente política tenta desconectar o crime da questão islâmica.
Voltemos ao livro de Ayaan Hirsi Ali, escrito em 2015. Deixarei que ela, que conhece o islamismo muito melhor do que eu, conclua esse artigo:
“Já faz quase uma década e meia que temos políticas e pronunciamentos baseados na suposição de que o terrorismo e o extremismo podem e devem ser diferenciados do islã. Sempre na esteira de ataques terroristas em todo o mundo, líderes ocidentais apressam-se a declarar que o problema nada tem a ver com o islã propriamente dito. Porque o islamismo é uma religião pacífica.
Mas e se essa premissa for totalmente errada? Porque não são apenas a Al-Qaeda e o EI que mostram a face violenta da fé e da prática islâmica. É também o Paquistão, onde qualquer declaração que critique o Profeta ou o islã é considerada blasfêmia e punível com a morte. É a Arábia Saudita, onde igrejas e sinagogas são proibidas, e onde a decapitação é uma forma legítima de punição, tanto assim que em agosto de 2014 houve quase uma decapitação por dia. É o Irã, onde o apedrejamento é uma punição aceitável, e os homossexuais são enforcados por seu “crime”. É Brunei, onde o sultão está reinstituindo a lei islâmica da sharia e a pena capital para a homossexualidade. […]
Atualmente ainda tentamos argumentar que a violência é obra de um punhado de extremistas lunáticos. Recorremos a metáforas médicas, tentando definir o fenômeno como algum tipo de corpo estranho no meio religioso em que ele se propaga. E fingimos acreditar que temos extremistas tão perversos quanto os jihadistas.”