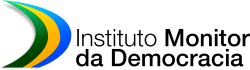A revista Crusoé trouxe como capa da sua edição 323 o tema “Extremo engano”. A oportuna matéria, assinada por Duda Teixeira, apontou o “alarmismo seletivo” da cobertura das recentes eleições legislativas na França: “É imprescindível que qualquer pessoa possa soar o alarme ao identificar alguma ameaça à democracia […] o problema das últimas semanas é que as advertências foram feitas unicamente em relação a partidos políticos da direita, sem qualquer crítica para a esquerda”, escreveu o jornalista.
Embora eu tenha abordado esse tema nos meus últimos artigos, retorno a ele em outra perspectiva, a fim de esboçar um começo de explicação acerca dessa ameaça que vem da esquerda.
A dificuldade em perceber as ameaças reais à democracia começa pela falta de clareza acerca do quê exatamente está sob ameaça. Democracia não é um conceito unívoco. O termo comumente faz referência ao povo como conjunto de cidadãos aos quais cabe o direito de tomar decisões coletivas, mas o modo como se acredita que isso deva se dar remete a posições políticas ou a tradições políticas praticamente opostas.
Embora a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, tenha se inspirado na declaração de independência americana, de 1776, o artigo 6 da declaração francesa marca uma diferença importante ao afirmar que “A lei é a expressão da vontade geral.” No ensaio “Sobre a Revolução”, Hannah Arendt chama atenção para essa diferença. Sob o influxo das ideias de Jean-Jacques Rousseau, a lei fora identificada à vontade do povo, enquanto na constituição americana não há essa identificação.
O que isso tem a ver com a nossa discussão sobre esquerda, direita e democracia? É que a tradição política de esquerda está mais próxima da concepção rousseauniana de democracia e, de modo geral, mais vinculada ao pensamento político de Rousseau.
Rousseau e o ideário da esquerda revolucionária
A democracia, para Rousseau, é fundamentalmente plebiscitária. Para ele, a soberania está na Assembleia una e indivisa que institui a lei, que é a expressão direta da vontade geral. A vontade geral, por sua vez, é um conceito paradoxal, que não equivale à soma das vontades particulares coletivamente expressas, mas à soma das diferenças das vontades que se autodestroem. Essa ambiguidade teórica se reflete na recepção ambígua da sua obra, cuja influência é reivindicada tanto por projetos políticos libertários quanto por projetos políticos totalitários.
Além da noção de vontade geral e democracia plebiscitária, há outros aspectos da obra desse inspirador do ideário da Revolução Francesa que marcam a visão de mundo da esquerda. Para Rousseau, foi o estabelecimento da propriedade privada da terra que originou a injusta desigualdade entre os homens.
Desde o momento em que o primeiro homem cercou uma porção de terra e disse “isto é meu” deu-se uma espécie de clivagem entre a idílica idade de ouro na qual vivia o “bon sauvage” e a época civilizada, marcada pela diferença entre proprietários e não proprietários, ricos e pobres, exploradores e explorados.
A partir daí, a história prossegue como um processo de intensificação dessa injustiça. Quanto mais se tem, mais se sente necessidade de explorar. A ideia da exploração da força de trabalho, posteriormente teorizada por Karl Marx, já está, de certa forma, posta por Rousseau. Além disso, há a ideia de que todos os primeiros contratos sociais são injustos e refletem apenas pactos por meio dos quais se perpetua a diferença entre ricos e pobres.
O direito civil, que assegura o direito à propriedade privada, seria apenas a consolidação jurídica da desigualdade. Não haveria, portanto, diferença fundamental entre os tipos de governo: democracias, oligarquias, monarquias: todos seriam formas de manter e aprofundar as desigualdades até o momento em que a sociedade seria refundada por um novo contrato, legitimado pela vontade geral.
O que Rousseau parece mostrar – e que ainda hoje é aceito pela militância radical de esquerda – é que o desenvolvimento histórico da sociedade europeia vai no sentido do aprofundamento da injustiça, da corrupção e da servidão até que esse movimento seja interrompido à força, por uma revolução.
Vê-se que aqueles que hoje se autointitulam progressistas são, na verdade, aqueles que não creem no progresso natural e espontâneo da sociedade; creem, ao contrário, na necessidade da violência para engendrar o progresso.
Robespierre: virtude e terror
Uma importante figura histórica que reivindicou o legado de Rousseau, agindo politicamente inspirado por sua filosofia, foi Robespierre, o líder jacobino, visionário e fanático que fez do fervor revolucionário a sua religião.
Aliás, cá estamos no contexto de surgimento das concepções políticas de esquerda e direita, tão controversas nos dias atuais: durante a Revolução Francesa, os radicais jacobinos, que acabaram por decidir pela decapitação do rei Luís XVI, costumavam sentar-se à esquerda na Assembleia, enquanto os girondinos, que defenderam um Estado descentralizado, a monarquia constitucional e rejeitaram a execução de Luís XVI sentavam à direita.
Robespierre, líder jacobino, liderou um golpe de Estado, apoiado pelos sans-culottes, que desmantelou os girondinos, prendeu os seus dirigentes e formou o Comitê de Salvação Pública, insistindo que o poder supremo deveria emanar da Assembleia e que os ministros deveriam ser meros executores das suas decisões.
Como principal dirigente desse comitê, Robespierre discursou, em 1794: “Devemos sufocar os inimigos internos da República ou perecer com ela; a primeira máxima da sua política deve ser que lideremos o povo pela razão e os inimigos do povo pelo terror […]. Este terror nada mais é do que uma justiça rápida, severa e inflexível”.
Com base nisso, ele iniciou a etapa conhecida como Grande Terror, fase mais sangrenta da revolução, que condenou à morte milhares de pessoas, com a mera justificativa de que o executado era um “inimigo do bem comum.”
Robespierre, também conhecido como “o incorruptível”, defendeu a violência e a repressão como um mal necessário para alcançar uma república justa e pacífica. Com a violência, tentou impôr o seu ideal de uma república democrática e virtuosa. Também é dele a frase: “O terror, sem virtude, é desastroso. A virtude, sem terror, é impotente.”
Violência e libertação
Essa mentalidade revolucionária e totalitária responde por inúmeros crimes contra a humanidade. Do grande terror francês aos Gulags soviéticos, o princípio de uma violência libertadora e emancipatória dirigiu as ações de líderes políticos e seduziu as mentes doutrinadas pela ideologia malsã.
Por mais que mentes mais lúcidas tenham rechaçado a violência política, muitos ainda a aceitam, sendo justamente esse o aspecto que caracteriza o extremismo, o qual foge às balizas civilizatórias que mantêm o conflito político no âmbito do dissenso saudável que reflete o pluralismo de ideias.
Há ainda uma corrente política, inspirada em dada corrente filosófica, que prega abertamente a violência revolucionária. A única diferença é que mudaram os que são considerados opressores (logo, precisam ser destruídos) e aqueles que são considerados oprimidos (logo, precisam ser justificados).
Os novos oprimidos
Como bem notou o filósofo Luc Ferry, no texto “Judéophopie, compreendre la nouvelle donne”, os muçulmanos são os novos proletários.
A guerra Israel-Hamas e a posterior ocupação das universidades ocidentais com idiotas úteis berrando pela aniquilação de Israel com um keffiyeh na cabeça, provam o ponto. Sinwar é o Che Guevara do século XXI.
Essa mudança de foco não começou agora. Em 1972, por exemplo, Jean-Paul Sartre escrevia no jornal La Cause du peuple: “Nesta guerra, a única arma dos palestinos é o terrorismo. É uma arma terrível, mas os oprimidos não têm outra; e os franceses que aprovaram o terrorismo da FLN contra o povo francês também devem aprovar a ação terrorista dos palestinos. Este povo abandonado, traído e exilado só pode mostrar a sua coragem e a força do seu ódio organizando ataques mortais”.
Não causa estranhamento, portanto – embora cause indignação – que um político extremista como Jean-Luc Melénchon, líder do partido La France Insoumise (LFI), tenha minimizado e justificado o cruel, bestial e indefensável ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro.
Jean-Luc Melénchon é um entusiasmado admirador de Robespierre e tem se esforçado para reabitá-lo e torná-lo modelo da nova França que ele quer fundar.
Como bem notou Duda Teixeira, na matéria da revista Crusoé anteriormente citada, o programa da sua campanha para presidente da França, em 2022, incluía a instalação de uma Sexta República: “Citando a Revolução Francesa de 1789, o programa pedia uma Assembleia Constituinte com uma estratégia revolucionária com vistas a uma ruptura profunda e que levaria a uma convulsão democrática.”
A histeria em torno de uma ameaça da extrema-direita, supostamente representada no partido de Marine Le Pen (RN) foi responsável pelo êxito da aliança de esquerda Nouveau Front Populaire (NFP).
Embora o presidente francês, Emmanuel Macron, não esteja minimamente inclinado a cometer o disparate de nomear Melénchon como primeiro-ministro, a dissolução da Assembleia e o tal arco republicado armado contra o Rassemblement National (RN) tornou possível a eleição de 71 deputados da França Insubmissa (LFI), um partido radical, revolucionário e antissemita.
Onde está o extremismo?
Isso quer dizer que a direita radical ou populista não representa uma ameaça à democracia? Qualquer projeto político que destoe das conquistas basilares no que concerne aos direitos humanos e que planeje uma ruptura com a constituição do seu país é uma ameaça. Mas essa ameaça deve ser avaliada a partir de fatos reais e de posturas políticas concretas, sem “alarmismo seletivo”.
No momento em que eu ainda trabalhava nesse artigo, o ex-presidente dos Estados Unidos e atual pré-candidato, Donald Trump, foi vítima de um atentado. No que concerne às minhas convicções políticas, considero Trump, Marine Le Pen, Bolsonaro e outros desse tipo como representantes de um projeto nacional-populista que rejeito. Mas a apresentação política desse projeto é legítima e essas ideias devem ser combatidas com ideias melhores, cuja aceitação ou não se refletirá nas urnas.
O combate ao nacional-populismo de direita passa pelo combate ao negacionismo de quem teima em não ver extremismo na esquerda radical que presta culto à violência.