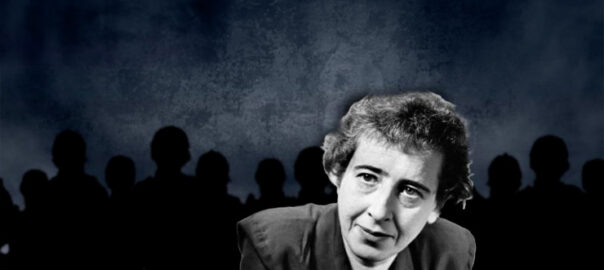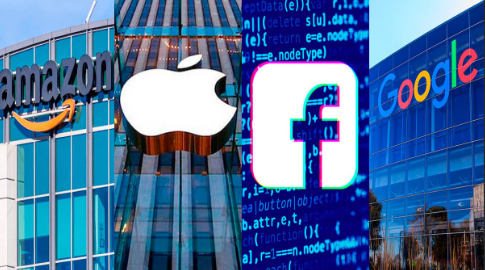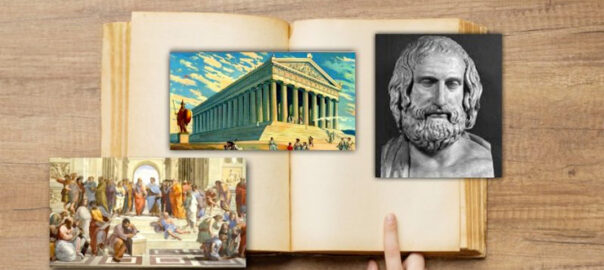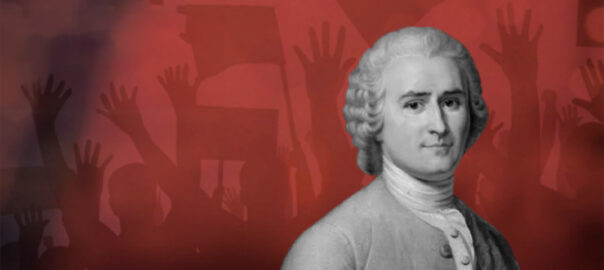A autoridade, explica Hannah Arendt, é comumente confundida com alguma forma de poder ou violência. Isso se dá porque ela sempre exige obediência. Contudo, “a autoridade exclui a utilização de meios externos de coerção; onde a força é usada, a autoridade em si mesma fracassou.[1]” A autoridade se contrapõe não apenas à coerção pela força, mas também à persuasão através de argumentos: “onde se utilizam argumentos, a autoridade é colocada em suspenso[2]”. É na hierarquia, cuja legitimidade é reconhecida tanto por aquele que manda quanto por aquele que obedece, que a autoridade se assenta.
No ensaio O que é autoridade?, Arendt delimita o conceito em questão a fim de possibilitar a sua contraposição à estrutura de governo totalitária, que se erigiu também como uma resposta à crise da autoridade. Longe de confundir autoritarismo com autoridade legítima ou governos autoritários com regimes totalitários, suas reflexões acerca do tema têm por objetivo depurar os conceitos a fim de que as análises alcancem o fenômeno do totalitarismo na sua peculiaridade e distinção. Na sua interpretação, o desenvolvimento de formas totalitárias de governo relaciona-se, em algum grau, com “o pano de fundo de uma quebra mais ou menos geral e mais ou menos dramática de todas as autoridades tradicionais[3]”.
A crise de autoridade a que ela se refere não se limita à perda de prestígio do governo ou do sistema de partidos, mas de algo anterior, que se espalha “em áreas pré-políticas tais como a criação dos filhos e a educação, onde a autoridade no sentido mais lato sempre fora aceita como uma necessidade natural[4].” Além disso, essa perda da autoridade não pode ser analisada como fenômeno isolado, uma vez que se trata apenas da “fase final, embora decisiva, de um processo que, durante séculos, solapou basicamente a religião e a tradição[5].”
Essa crise maior, não apenas da autoridade, mas da religião, da tradição e da própria razão, tornou-se patente na contemporaneidade, principalmente através das críticas de Kierkegaard, Marx e Nietzsche, pensadores que “desafiaram os pressupostos básicos da religião tradicional, do pensamento político tradicional e da metafísica tradicional invertendo conscientemente a hierarquia tradicional dos conceitos.[6]” Responsabilizar, porém, os pensadores rebeldes do século XIX pelas catástrofes do século XX seria “ainda mais perigoso que injusto[7]”, pois “as implicações manifestas no evento concreto da dominação totalitária vão muito além das mais radicais e ousadas ideias de quaisquer desses pensadores[8]”. É preciso, ao contrário, reconhecer-lhes a grandeza por “terem percebido o seu mundo como um mundo invadido por problemas e perplexidades novas com as quais nossa tradição de pensamento era incapaz de lidar[9]”.
Kierkegaard, Marx e Nietzsche, segundo Hannah Arendt, “situam-se no fim da tradição, exatamente antes de sobrevir a ruptura”.[10] Eles radicalizaram a abordagem ao passado pelo fio da continuidade histórica, questionando a tradicional hierarquia conceitual que dominara a filosofia ocidental desde Platão e que Hegel dera por assegurada, sendo “para nós como marcos indicativos de um passado que perdeu sua autoridade. Foram eles os primeiros a ousar pensar sem a orientação de nenhuma autoridade, de qualquer espécie que fosse[11]”, mas não podem, por isso, responder pela brutal quebra que houve em nossa história: “esta brotou de um caos de perplexidades de massa no palco político e de opiniões de massa na esfera espiritual que os movimentos totalitários, através do terror e da ideologia cristalizaram em uma nova forma de poder e de dominação[12]”.
Tendo por pano de fundo a sua crítica à noção linear de História típica da modernidade, Arendt aponta certas fragilidades nos argumentos de liberais e conservadores quando estes abordam a dicotomia autoridade versus liberdade. Liberalismo e conservadorismo seriam, segundo ela, “a expressão política da consciência histórica do derradeiro estágio da época moderna”[13] e procederiam “sob a implícita suposição de que as distinções não são importantes”. O uso que ambas as vertentes fazem dos conceitos de história, progresso e decadência responderiam pela incapacidade de distinguir, atestando seu pertencimento a uma época na qual tais conceitos “começaram a perder sua clareza e plausibilidade por terem perdido seu significado na realidade público-política sem perderem inteiramente sua importância”.[14] Liberalismo e conservadorismo teriam mostrado, em conjunto, que estivemos diante de um retrocesso simultâneo tanto da liberdade quanto da autoridade, mas, por se manterem dentro das categorias de uma filosofia da história, foram insuficientes na interpretação do fenômeno totalitário, o qual analisaram não na sua essência e originalidade, como evento qualitativamente distinto, mas sim como mera medida de distanciamento daquilo que traziam como expectativa:
“O liberalismo mede um processo de refluxo da liberdade, enquanto o conservadorismo mede um processo de refluxo da autoridade; ambos denominam de totalitarismo o resultado final esperado e veem tendências totalitárias onde quer que um ou outro esteja presente[15].”
A crítica de Arendt, portanto, não se limita ao liberalismo e ao conservadorismo enquanto tais, mas à falta de sutileza das ciências sociais, políticas e históricas como um todo. O filósofo (no caso, a filósofa) vê diferenças de natureza onde o pesquisador comum enxerga apenas diferenças de grau. Por partir do pressuposto de que há uma constância do progresso na direção da liberdade organizada, as teorias liberais olham cada desvio desse rumo como um mero processo reacionário e perdem de vista as nuances de cada forma de governo, desconsiderando as diferenças entre elas:
“Isso faz com que passem por alto a diferença de princípio entre a restrição da liberdade em regimes autoritários, a abolição da liberdade política em tiranias e ditaduras, e a total eliminação da espontaneidade, isto é, da mais geral e elementar manifestação da liberdade humana a qual somente visam os regimes totalitários, por intermédio dos seus diversos métodos de condicionamento. O escritor liberal, preocupado antes com a história e o progresso da liberdade que com as formas de governo, vê aqui apenas diferenças de grau, e ignora que o governo autoritário empenhado na restrição à liberdade permanece ligado aos direitos civis que limita, na medida em que perderia sua própria essência se os abolisse inteiramente – isto é, transformar-se-ia em tirania[16].”
Aqui se torna patente a importância do rigor conceitual: autoritarismo não pode ser confundido com totalitarismo. Por trás da confusão liberal inclinada a ver tendência totalitária em toda limitação autoritária jaz, segundo Arendt, a “confusão mais antiga de autoridade com tirania e de poder legítimo com violência[17]”. É preciso, pois, salientar as distinções:
“A diferença entre tirania e governo autoritário sempre foi que o tirano governa de acordo com seu próprio arbítrio e interesse, ao passo que o mais draconiano governo autoritário é limitado por leis. Seus atos são testados por um código que […] não foi feito pelos detentores efetivos do poder. A origem da autoridade no governo autoritário é sempre uma força externa e superior ao seu próprio poder; é sempre dessa fonte, dessa força externa que transcende a esfera política, que as autoridades derivam sua “autoridade” – isto é sua legitimidade – e em relação à qual seu poder pode ser confirmado[18].”
As distinções entre sistemas tirânicos, autoritários e totalitários propostas por Arendt são a-históricas e antifuncionais. Elas implicam que, no mundo moderno, a autoridade desapareceu tanto no mundo livre quanto nos chamados sistemas autoritários e que a liberdade “está sob ameaça em toda parte, mesmo nas sociedades livres, tendo sido, porém, abolida radicalmente apenas nos sistemas totalitários, e não nas tiranias e nas ditaduras[19]”.
A autoridade, explica Hannah Arendt, não se acha necessariamente presente em todos os organismos políticos. Tanto a palavra (auctoritas) quanto o conceito são de origem romana e não estiveram presentes nem na língua grega nem nas várias experiências políticas da história grega[20]. A experiência da pólis, como se sabe, era baseada no logos, na doxa, na consideração do mundo comum a partir de diversos pontos de vista: “Em um percuciente e inexaurível fluxo de argumentos, tais como apresentados aos cidadãos de Atenas pelos sofistas, o grego aprendeu a intercambiar seu próprio ponto de vista, sua própria opinião com os seus concidadãos[21]”. O governo absoluto, por sua vez, era conhecido pelos cidadãos da pólis como tirania e uma das principais características do tirano era governar por meio da pura violência[22].
Não havia, portanto, na experiência política grega efetiva uma relação em que o elemento coercitivo repousasse na relação mesma e que implicasse simultaneamente obediência e liberdade. Foi isso que Platão e Aristóteles tentaram introduzir na vida pública da pólis e, para tanto, foram buscar exemplos das relações extraídas da administração doméstica e da vida familiar gregas[23]. Foi após a morte de Sócrates que Platão começou a descrer da democracia, passando a considerar a persuasão insuficiente para guiar os homens, buscando então algo que se prestasse a compeli-los sem o uso de meios externos de violência[24].
Para Arendt, o contexto no qual o pensamento grego se acerca mais estreitamente do conceito de autoridade é “na República, de Platão, onde ele confrontou a realidade da pólis com um utópico governo da razão na pessoa do rei-filósofo[25]”, cujo poder coercitivo repousaria não na pessoa do rei, mas nas ideias que são percebidas pelo filósofo[26]. A verdade do filósofo, porém, não possui a mesma validade na “esfera dos assuntos humanos que o filósofo tivera que abandonar para percebê-la[27]”. Há, pois, uma “dicotomia entre o ver a verdade em solidão e isolamento e o ser capturado nas conexões e relativismos dos negócios humanos[28]”.
A perda de vista dessa dicotomia esconde, muitas vezes, uma vontade de domínio que se disfarça sob um manto pedagógico. Foi sob esse manto que o pensamento político platônico influenciou boa parte da teoria política ocidental. Platão não apenas “pretendeu introduzir uma espécie de autoridade no manejo dos negócios públicos e na vida da pólis[29]” como também tentou fazer com que essa autoridade política adquirisse um caráter educacional, sobrepondo ao reino da política o modelo educacional por meio da autoridade.
Não foi, porém, na Grécia, que a palavra e o conceito de autoridade se estabeleceram, mas em Roma, assentando-se na tradição e na religião, perfazendo a tríade que se sustentava na experiência da fundação romana. Com o declínio do Império, a herança política e espiritual de Roma passou à Igreja Católica, que assumiu a tríade religião, autoridade e tradição. Uma vez que a Igreja adotara a distinção romana entre autoridade e poder, reivindicando para si a primeira,[30] a posterior separação entre Igreja e Estado teve por inconveniente implicar a perda, no âmbito político, do “elemento que, pelo menos na História ocidental, dotara as estruturas políticas de durabilidade, continuidade e permanência[31]”.
O famoso declínio do ocidente ou a crise do mundo atual é interpretado por Hannah Arendt como “declínio da trindade romana de religião, tradição e autoridade, com o concomitante solapamento das fundações especificamente romanas de domínio político[32]”. As revoluções da época moderna seriam, por seu turno, “gigantescas tentativas de reparar essas fundações, de renovar o fio rompido da tradição e de restaurar, mediante a fundação de novos organismos políticos, aquilo que durante séculos conferiu aos negócios humanos certa medida de dignidade e grandeza[33]”.
Com exceção da Revolução Americana, todas as revoluções, desde a francesa, malograram em seus objetivos, tendo terminado em restauração ou tirania. Isso indica, segundo Arendt, que a autoridade – tal como se desenvolveu na experiência romana e foi compreendida à luz da filosofia política grega – não se reestabeleceu em lugar nenhum e que precisamos lidar com o fato de que vivemos hoje em uma esfera política sem autoridade, confrontados com os problemas elementares da convivência humana “sem a confiança religiosa em um começo sagrado e sem a proteção de padrões de conduta tradicionais e, portanto, auto evidentes[34]”.
Notas
[1] ARENDT, Hannah, Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2016. p.129
[2] Idem. p.129
[3] Idem. p.128
[4] Idem. p.128
[5] Idem. p.130
[6] Idem. p.53
[7] Idem. p.54
[8] Idem. p.54
[9] Idem. p.54
[10] Idem. p. 55
[11] Idem. p.56
[12] Idem. p.53
[13] Idem. p.139
[14] Idem. p.139
[15] Idem. p.137
[16] Idem p.133-134
[17] Idem p.134
[18] Idem p.134
[19] Idem p.142
[20] Idem p.142
[21] Idem. p.82
[22] Idem. p. 143
[23] Idem. p. 143
[24] Idem. p. 147
[25] Idem. p. 145
[26] Idem. p. 149
[27] Idem. p.155
[28] Idem. p.156
[29] Idem. p.159
[30] Idem. p.169
[31] Idem. p. 170
[32] Idem. p. 185
[33] Idem. p. 185
[34] Idem. p. 187