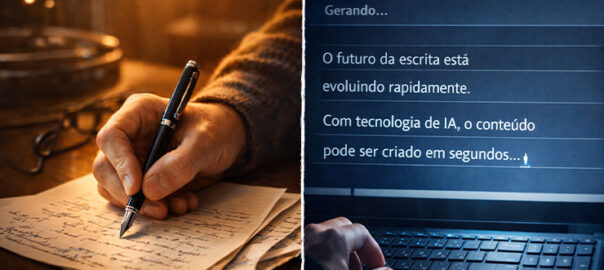Agora devidamente anunciado ao público, havia já alguns anos que o STF Futebol Clube vinha atuando, dentro e fora de campo, de maneira bastante eficiente; sendo o seu ponto forte o espírito de equipe: no time do Supremo Tribunal Federal ninguém solta a mão de ninguém.
Forte na defesa, o time do Supremo é audacioso no ataque, atropelando os adversários sem qualquer preocupação com as regras do jogo. Jogando firmemente contra o frágil time da democracia, que alega defender, o atacante Alexandre de Moraes faz valer a força para golear o adversário, deixando atônitos os torcedores do time do Estado Democrático de Direito.
Antes de seguir com o relato das supremas irregularidades, devemos recordar a origem da nossa alegoria futebolística. Ela vem de uma fala do ministro Flávio Dino, feita em uma reunião do STF que deveria ser secreta, mas que foi gravada e vazada:
“Eu já disse para o meu amigo e irmão Dias Toffoli: veja que já tem maioria. Mas não vai ser unânime. Mas o ministro Dias Toffoli tem voto para continuar. […] Em qualquer outro pedido de arguição [de ministro] eu sou STF futebol clube”.
Essa reunião havia sido convocada às pressas pelo ministro-presidente Edson Fachin porque o STF estava sendo acuado por investigações da Polícia Federal, pela imprensa investigativa e pela opinião pública por envolvimento de ministros do Supremo no caso da liquidação do Banco Master; sendo especialmente visado o ministro Dias Toffoli, que segurava nas suas suspeitas mãos a relatoria do referido e escandaloso caso.
Contrariamente à previsão de Flávio Dino, a nota emitida pelo colegiado do STF – que resultou de um acordo com Dias Toffoli, que aceitou pedir afastamento da relatoria – foi unânime; e não só afastou do “amigo e irmão” qualquer suspeição, como enalteceu o seu trabalho.
Convém lembrar que, por ocasião da referida convocação, o presidente Fachin levantava publicamente e com grande insistência a bola do “código de ética”. Depois da decisão pouco ética exposta na acovardada nota do colegiado e pelas falas pouco republicanas da reunião vazada, viu-se que o código de Fachin era uma tentativa de drible na opinião pública, uma artimanha de jogador catimbeiro.
Dias Toffoli parece sequer ter preocupação com a imagem pública do seu “time”, praticando um jogo feio que dá muito na vista. No caso Master-Vorcaro, tomou decisões esdrúxulas para se defender das suspeitas robustas derivadas das investigações da Polícia Federal.
O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, antecipou jogadas adversárias e partiu para o ataque até mesmo por suspeitas que ele presumiu pudessem vir a macular ainda mais a sua já não muito honorável imagem.
Recentemente, esse hábil jogador, determinou uma série de medidas cautelares contra quatro servidores públicos ligados à Receita Federal (ou cedidos a ela) no contexto de uma investigação sobre supostos acessos ilegais e possível vazamento de dados fiscais sigilosos de ministros do STF e de seus familiares. A ação ocorreu no âmbito do Inquérito 4.781 do qual Moraes é relator.
As restrições impostas aos servidores públicos impactam diretamente direitos como o de exercer o cargo, liberdade de locomoção (parcial), privacidade (sigilos quebrados) e acesso a ferramentas de trabalho. Algumas defesas já pediram revisão (ex.: retirada de tornozeleira e acesso a e-mails para comprovar álibi).
Para a aplicação de punições tão pesadas, o STF alegou que “Foram constatados diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil, seguindo-se de posterior vazamento das informações sigilosas”.
Consultada, a Procuradoria Geral da República (PGR), corroborou a decisão do ministro, afirmando o seguinte:
“o caso não se exaure apenas na violação individual do sigilo fiscal, uma vez que a exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas, divulgadas sem contexto e sem controle jurisdicional, tem sido instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais, de difícil dissipação”.
Vejam que a iniciativa da denúncia contra os servidores da Receita não foi da PGR, que foi consultada depois que o ministro Moraes já havia tomado a decisão. E quem investigou, como transcorreu o processo? Tudo foi feito na alçada do STF, sob o talante autoritário e implacável de Alexandre de Moraes, no amparo do “inquérito das fake news”, o famigerado “inquérito do fim do mundo”. Inquérito este que é considerado inconstitucional por muitos, inclusive pelo ministro aposentado do STF Marco Aurélio Mello.
Naturalmente, sobrevieram reações à intempestiva condenação dos auditores da Receita Federal, algumas em tons de revolta e indignação, denunciando que estavam sendo feridas pelo STF regras básicas que devem ser observadas no Estado Democrático de Direito.
Um dos que reclamaram foi, justamente, quem mais tinha o direito e até mesmo o dever de reclamar: o presidente da Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil), Kleber Cabral. O líder sindical, então, fez a seguinte declaração: “É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República.”
E disse ainda:
“Há uma mensagem, que eu preciso registrar, subliminar, que isso afeta muitos auditores, que é o seguinte: esse tipo de medida busca humilhar, busca constranger e busca amedrontar. E o pior é que dá certo”.
O ministro Alexandre de Moraes não perdeu tempo e abusou, pela enésima vez, do seu poder, mandando investigar o presidente da Unafisco por suas audaciosas declarações.
Uma nação democrática deve ter pela sua Suprema Corte o maior respeito; no Brasil, entretanto, ela é merecidamente objeto de desprezo e tenta se impor aos cidadãos incutindo neles o medo.
Entre medos razoáveis ou desarrazoados, ventila-se estar em curso uma possível prisão da jornalista Malu Gaspar.
Como se sabe, essa jornalista de O Globo e Globo News, realiza um trabalho de jornalismo investigativo dos mais eficientes e corajosos. Sua reportagem/investigação sobre o contrato milionário entre o escritório de Advocacia de Viviani Barci de Moraes (esposa do ministro Alexandre de Moraes) e o Banco Master foi o que abalou os alicerces do mundo jurídico-político nacional.
Pode ser alarde, mas os abusos continuados de Alexandre de Moraes justificam o temor e abrem precedentes perigosos, sendo sumamente importante nesse momento a defesa da liberdade de imprensa e a valorização e reconhecimento devidos ao que restou do jornalismo no Brasil, ainda não cooptado pelo poder do Lulismo e do STF.