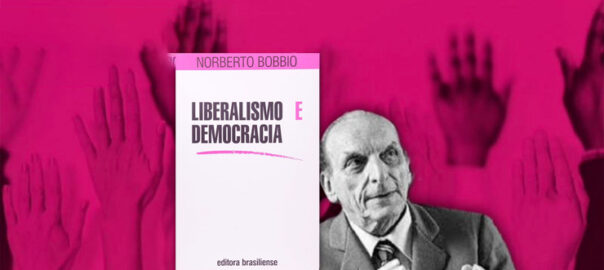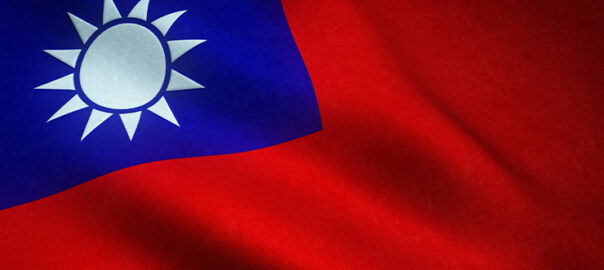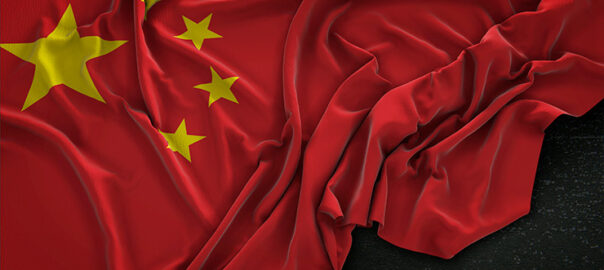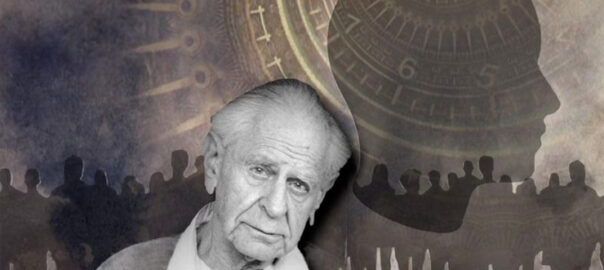Apesar da existência atual de regimes denominados democracias liberais, o problema da relação entre liberalismo e democracia, explica Norberto Bobbio, é muito complexo. Tais termos se referem às “duas exigências fundamentais das quais nasceram os Estados contemporâneos nos países econômica e socialmente mais desenvolvidos: a exigência, de um lado, de limitar o poder e, de outro, de distribuí-lo[1]”.
Enquanto o liberalismo é uma “concepção na qual o Estado tem poderes e funções limitadas, e como tal se contrapõe tanto ao Estado absoluto quanto ao Estado social”, a democracia é uma forma de governo na qual o poder “não está nas mãos de um só ou de poucos, mas da maior parte, como tal se contrapondo às formas autocráticas, como a monarquia e a oligarquia[2].”
O pressuposto do liberalismo, o que fundamenta a sua exigência de limitação do poder do Estado, é a doutrina dos direitos do homem, elaborada pela escola do direito natural (jusnaturalismo)[3], segundo a qual existem leis naturais que independem da vontade humana e que precedem à formação do grupo social. Essa doutrina está na base das Declarações dos Direitos proclamadas tanto na Revolução Americana (1776) quanto na Revolução Francesa (1789). O Estado de direito, corolário do liberalismo, busca regular os poderes públicos com base na constitucionalização dos direitos naturais, ou seja, “a transformação desses direitos em direitos juridicamente protegidos, isto é, verdadeiros direitos positivos.[4]”
O utilitarismo de Jeremy Bentham, no entanto, pôs o liberalismo sobre um fundamento diferente. Ao invés de fundar a restrição do poder público sobre a existência de direitos naturais, como o fizera a secular tradição do jusnaturalismo, o “princípio de utilidade” de Bentham estabelece que os limites do poder dos governantes derivam “da consideração objetiva de que os homens desejam o prazer e rejeitam a dor e que a melhor sociedade é aquela que consegue obter o máximo de felicidade para o maior número de seus componentes.[5]” Segundo Bobbio, “essa passagem do jusnaturalismo para o utilitarismo assinala, para o pensamento liberal, uma verdadeira crise de fundamentos[6].” John Stuart Mill, que foi liberal e utilitarista, levou adiante essa perspectiva de Bentham.
Mill foi ao mesmo tempo liberal e democrata e considerava o governo representativo como o “desenvolvimento natural e consequente dos princípios liberais”. Um aspecto peculiar do seu pensamento democrático foi a defesa do voto plural, por meio do qual os mais instruídos teriam voto com um peso maior. Sua ideia era que o ensino universal deveria preceder o sufrágio universal, o que diminuiria os riscos de degradação da democracia pelo populismo.
É importante notar que, embora existam as democracias liberais, um Estado liberal não é necessariamente democrático nem um governo democrático implica necessariamente um estado liberal.[7] As democracias liberais são, na verdade, o resultado da combinação gradual dos ideias liberais com o método democrático. Essa combinação é salutar pois, segundo Bobbio, existem boas razões para crer que “o método democrático seja necessário para salvaguarda dos direitos fundamentais da pessoa, que estão na base do Estado liberal” e que “a salvaguarda desses direitos seja necessária para o correto funcionamento do método democrático[8].” Bobbio constata ainda que “hoje, apenas os Estados nascidos das revoluções liberais são democráticos e apenas os estados democráticos protegem os direitos do homem: todos os estados autoritários do mundo são, ao mesmo tempo, antiliberais e antidemocráticos[9]”.
Mas a democracia só pode ser considerada um complemento natural do estado liberal no seu aspecto político, que concerne ao sufrágio universal e às regras do jogo do poder. De fato, o sufrágio universal não é linha de princípio contrária ao liberalismo, mas sim complementar, uma vez que “os direitos políticos são um complemento natural dos direitos de liberdade e dos direitos civis[10]” e “o melhor remédio contra o abuso de poder de qualquer forma é a participação direta ou indireta dos cidadãos, do maior número de cidadãos, na formação das leis.[11]” Com respeito, porém, “aos vários significados possíveis de igualdade, liberalismo e democracia estão destinados a não se encontrar.”[12]
O tipo ou o significado de democracia que está historicamente ligado à formação do estado liberal é a chamada democracia formal ou procedimental e não a democracia substancial, uma vez que aquela “põe maior evidência no conjunto das regras cuja observância é necessária para que o poder político seja efetivamente distribuído entre a maior parte dos cidadãos[13]” e esta põe ênfase no ideal de igualdade.
Ambos os significados de democracia, explica Norberto Bobbio, são historicamente legítimos, devendo-se salientar que, caso se opte por assumir a concepção substancial, que põe ênfase no ideal de igualdade, o problema das relações entre liberalismo e democracia torna-se muito complexo, pois, quando se estendem à esfera econômica, “liberdade e igualdade são valores antitéticos, no sentido de que não se pode realizar plenamente um sem limitar fortemente o outro.[14]” A incompatibilidade está também no fato de que:
“Libertarismo e igualitarismo fundam suas raízes em concepções do homem e da sociedade profundamente diversas: individualista, conflitualista e pluralista a liberal; totalizante, harmônica e monista a igualitária. Para o liberal, o fim principal é a expansão da personalidade individual, mesmo se o desenvolvimento da personalidade mais rica e dotada puder se afirmar em detrimento do desenvolvimento da personalidade mais pobre e menos dotada; para o igualitário, o fim principal é o desenvolvimento da comunidade em seu conjunto, mesmo que ao custo de diminuir a esfera de liberdade dos singulares.” [15]
Há, porém, um tipo de igualdade que, segundo Bobbio, é não apenas compatível com o liberalismo, mas por ele solicitada, “é a igualdade na liberdade: o que significa que cada um deve gozar de tanta liberdade quanto compatível com a liberdade dos outros.” Trata-se, na verdade, da fórmula clássica da liberdade sob o império da lei. O estado liberal, portanto, é o Estado de direito, ou seja, aquele no qual os poderes públicos são regulados por normas gerais (as leis fundamentais ou constitucionais), refletindo “a velha doutrina – associada aos clássicos e transmitida através das doutrinas políticas medievais – da superioridade do governo das leis sobre o governo dos homens[16].”
Se, do ponto de vista da limitação dos poderes, o Estado liberal é um Estado de direito, do ponto de vista de suas funções o Estado liberal se pretende um Estado mínimo, cabendo notar, porém, que “pode ocorrer um Estado de direito que não seja mínimo (por exemplo, o Estado social contemporâneo) e pode-se também conceber um Estado mínimo que não seja um estado de direito.[17]”
De todo modo, na perspectiva liberal, o Estado é concebido como um mal necessário e, enquanto mal, deve se intrometer o menos possível na esfera de ação dos indivíduos, sendo os mecanismos constitucionais o obstáculo erguido contra o exercício arbitrário e ilegítimo do poder. Dentre esses mecanismos, Bobbio cita como mais importantes 1) o controle do poder executivo pelo poder legislativo (ou seja, do governo pelo parlamento); 2) eventual controle do parlamento no exercício do poder legislativo por parte de uma corte jurisdicional a quem se pede a averiguação da constitucionalidade das leis; 3) relativa autonomia do governo local em todas as suas formas e em seus graus com respeito ao governo central; 4) uma magistratura independente do poder político[18].
O processo de formação do Estado liberal confunde-se ainda com a progressiva emancipação da sociedade civil em relação ao Estado e o progressivo alargamento da esfera de liberdade do indivíduo, principalmente na esfera religiosa e econômica. O que marca mais profundamente a concepção liberal do Estado é a contraposição às várias formas de paternalismo. Bobbio chama atenção para o fato de que, embora muitos foquem na crítica exclusivamente econômica…
“O primeiro liberalismo nasce com uma forte carga ética, com a crítica ao paternalismo, tendo a sua principal razão de ser na defesa da autonomia da pessoa humana. Sob este aspecto, Humboldt vincula-se a Kant, este e Humboldt a Constant. Mesmo em Smith, que de resto antes de ser um economista foi um moralista, a liberdade tem um valor moral.” [19]
Kant, na sua obra Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita (1784), expressa a ideia de que o antagonismo é fecundo e induz ao progresso. A natural e contrastante variedade dos caracteres e das disposições, o antagonismo e a concorrência que essa heterogeneidade provoca, seria um meio utilizado pela natureza para realizar o desenvolvimento de todas as suas tendências. A intervenção do Estado para além das tarefas básicas que lhe são cabíveis sufoca esse florescimento social, dificultando o progresso técnico e moral da humanidade.
Embora liberais costumem enfatizar mais o valor do indivíduo do que os democratas, Bobbio explica que “ambos repousam sobre uma concepção individualista de sociedade[20]” no sentido de se contraporem a uma concepção organicista (holista) que “considera o Estado como um grande corpo composto por partes que concorrem para a vida do todo e, portanto, não atribui autonomia aos indivíduos uti singuli”. A diferença estaria, porém, no fato de que o interesse individual que o liberalismo se propõe a defender não é o mesmo daquele que é protegido pela democracia ou, dito de outra forma, as relações do indivíduo com a sociedade são vistas de modo distinto pelo liberalismo e pela democracia, sendo as principais diferenças as seguintes:
O liberalismo extrai o singular do corpo orgânico da sociedade e o faz viver nos perigos da luta pela sobrevivência, enquanto a democracia reúne o indivíduo aos seus semelhantes para que a sociedade seja recomposta não como um todo orgânico, mas como uma associação de indivíduos livres; o liberalismo reivindica a liberdade individual contra o Estado tanto na esfera espiritual quanto na esfera econômica e faz do singular o protagonista de toda a atividade que se desenrola fora do Estado, enquanto a democracia faz do singular o protagonista de uma forma diversa de Estado na qual as decisões coletivas são tomadas pelos cidadãos e seus representantes; o liberalismo evidencia a capacidade do indivíduo de se autoformar e vê nele um microcosmo ou uma totalidade completa em si mesma, enquanto a democracia reconcilia o indivíduo com a sociedade e exalta a sua capacidade de superar o isolamento; o liberalismo tem por efeito a redução ao mínimo do poder público, enquanto a democracia busca expedientes capazes de permitir a instituição de um poder comum não tirânico, reconstituindo assim o poder público como soma de poderes particulares[21].
Convém notar que, a despeito das diferenças, “a relação entre liberalismo e democracia nunca foi de antítese radical[22]”, mas a relação entre liberalismo e socialismo sim. O “pomo da discórdia” entre ambos, explica Bobbio, é a liberdade econômica, “que pressupõe a defesa ilimitada da propriedade privada[23]”, vista pelos socialistas como fonte principal da desigualdade entre homens, conforme apregoado por Rousseau.
A necessidade de se contrapor ao avanço do socialismo e seu programa de economia planificada e coletivização dos meios de produção fez com que a doutrina liberal se concentrasse cada vez mais na pauta econômica, em defesa da economia de mercado e da livre iniciativa. Esse fenômeno fez com que o liberalismo se identificasse cada vez mais como uma doutrina meramente econômica, o que costuma ser chamado de liberismo[24].
Por outro lado, foi justamente o aparecimento, no século XX, dos Estados totalitários, que possibilitou uma gradual convergência entre a tradição liberal e a democrática. Os regimes nem liberais nem democráticos tornaram histórica e politicamente irrelevantes as diferenças originárias, possibilitando a sedimentação da tradição democrática liberal.
Ciente dos contrastes entre liberalismo e democracia, Norberto Bobbio defende “soluções de compromisso” para o que julga um “contraste benéfico” entre duas concepções de liberdade: a dos liberais (a liberdade negativa, que exige de um Estado que governe o mínimo possível) e a dos democratas (a liberdade positiva, que almeja um estado no qual o governo esteja o máximo possível nas mãos dos cidadãos).
Se os liberais, pondera o filósofo, aceitarem a “democracia como método ou como conjunto das regras do jogo” e os democratas atentarem para o “estabelecimento permanente dos limites em que podem ser usadas aquelas regras”, liberalismo e democracia poderão passar “de irmãos inimigos a aliados[25].”
[1] BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. São Paulo: Brasiliense, 200 p.8
[2] P.8
[3] p.11
[4] p.18
[5] p.63
[6] p.64
[7] p.7
[8] p.43
[9] p. 44
[10]p.44
[11]p.45
[12] P.42
[13] P.37
[14] p.39
[15] P.39
[16] p.18
[17] P.17
[18] p.19
[19] p.27
[20] P.45
[21] P.47-48
[22] P.79
[23] P.80
[24] P.86
[25] P.97