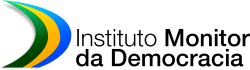Obedientes à sinalização de Donald Trump, virtual candidato Republicano à eleição presidencial de novembro próximo, os senadores do partido retiraram seu apoio a um bilionário projeto de legislação financiando o fortalecimento da segurança na fronteira dos Estados Unidos com o México, dificultando a concessão de asilo humanitário aos milhares de imigrantes que todo dia atravessam clandestinamente essa fronteira rumo ao território americano e acelerando os trâmites para a deportação daqueles ilegais não qualificados para o benefício.
Ironicamente, esse amplo pacote de reforma imigratória fora uma exigência imposta pela própria bancada senatorial do GOP como condição para aprovar a concessão de assistência militar a três estratégicos aliados de Washington: Ucrânia, Israel e Taiwan. (O Senado se encontra ‘rachado’ entre 50 Democratas e 49 Republicanos, e, para seguir à Câmara de Representantes, o projeto necessitaria de um mínimo de 60 votos.)
Não é segredo para ninguém que o recuo Republicano foi motivado pelo cálculo eleitoral. Desde 2015, quando, no começo da sua primeira campanha à Casa Branca, Trump acusou de “criminosos e estupradores” os mexicanos que entram ilegalmente nos Estados Unidos, a questão da imigração tornou-se bandeira número um do Partido Republicano, cuja militância culpa a administração do presidente Democrata Joe Biden pelo caos na fronteira meridional. Trump se recusa a conceder ao governo qualquer progresso nessa área explosiva em pleno ano eleitoral.
Incerteza externa – O acordo vinculando medidas contra a imigração ilegal à ajuda militar havia sido laboriosamente negociado durante os últimos quatro meses por um trio de senadores: Chris Murphy, Democrata de Connecticut; Kyrsten Sinema, Independente do Arizona; e James Lankford, Republicano de Oklahoma. Agora, depois do fracasso engendrado pelas ambições eleitorais dos trumpistas, os líderes da Maioria — Chuck Schumer, Democrata de Nova York — e da Minoria — Mitch McConnell, Republicano do Kentucky — no Senado correm contra o relógio para recosturar um pacote com foco exclusivo em assistência de segurança, orçado em 95,3 bilhões de dólares, dos quais 60 bilhões para a Ucrânia; 14,1 bilhões para Israel e 4,8 bilhões para ajudar Taiwan e outros aliados na região do Indo-Pacífico a enfrentarem a agressiva ameaça da China.
Analistas de política externa e relações internacionais enxergam nesse imbróglio a reiteração das tendências isolacionistas de Trump, que durante sua administração (2017/2021) cancelou a participação dos Estados Unidos na Parceria Transpacífico, determinou o fim da colaboração militar com os grupos de resistência armada ao regime sírio de Bashar al-Assad (cliente da Rússia de Putin e do Irã dos aiatolás) e ameaçou retirar a América da Otan. Na presente campanha, ele se limita a posicionamentos vagos e dúbios quando indagado sobre a política externa de sua possível segunda administração. (Vale o registro histórico: até hoje, o único presidente americano a cumprir dois mandatos não consecutivos foi o Democrata Grover Cleveland, que frustrou a tentativa de reeleição do incumbente Republicano Benjamin Harrison, em 1892.) Exemplos: sobre a guerra Rússia X Ucrânia, sem oferecer detalhes, Trump promete acabar com o conflito em 24 horas; apesar de suas pesadas críticas à condução da estratégia dos Estados Unidos no Oriente Médio, o Republicano não especifica o que vai fazer se derrotar Biden; tampouco ele se compromete com a defesa de Taiwan na hipótese de anexação forçada da ilha à República Popular da China, cenário abertamente admitido pelo regime comunista de Xi Jinping.
Para lançar um pouco mais de luz sobre as prováveis opções de uma política externa Republicana a partir de 2025, este articulista consultou o capítulo de Política Externa (“Department of State”) do alentado relatório — total de mais de 900 páginas! — Mandate for Leadership: the Conservative Promise. A publicação, que consolida detalhadamente as providências que uma administração Republicana deveria tomar em todos os departamentos e agências do Executivo federal a partir do meio-dia de 20 de janeiro de 2025, foi coordenada pelo prestigioso think tank conservador Heritage Foundation, contando com a colaboração de grande e variado grupo de acadêmicos, empresários, líderes de opinião e gestores de políticas públicas pertencentes a organizações da Direita americana, entre as quais o Alabama Policy Institute, Center for Family and Human Rights, Ethics and Public Policy Center, Foundation for Government Accountability, Hillsdale College, Intercollegiate Studies Institute, Texas Public Policy Foundation e Young America’s Foundation. A responsável pelo capítulo é a professora Kiron K. Skinner, mestre e PhD em Ciência Politica por Harvard, docente da Escola de Política Pública da Pepperdine University (Califórnia), pesquisadora da Hoover Institution (Stanford University), conselheira-sênior da Heritage, ex-diretora de Planejamento de Política Externa do Departamento de Estado e ex-membro da Junta de Negócios de Defesa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.
O texto de Skinner começa com um conjunto de sugestões comuns a outros capítulos do documento, referentes à rápida ocupação das principais posições no Departamento de Estado por profissionais alinhados aos princípios, valores e ideias do novo presidente Republicano, sempre que possível dando preferência a correligionários fiéis sobre servidores de carreira, já que o establishment diplomático é olhado com desconfiança pelos conservadores em geral como uma corporação predominantemente composta de elementos de orientação progressista, ciosa de sua autonomia em relação a qualquer governo e acostumada a conduzir por conta própria aquilo que os diplomatas consideram a melhor política externa para o país.
Mais adiante, a autora ilumina as prioridades de uma política externa conservadora, mesmo reconhecendo que alguns pontos importantes — como a questão do apoio militar aos ucranianos na sua luta contra a invasão russa — não gozam de consenso no Partido Republicano.
China (nova guerra fria) – Skinner estabelece como primeiríssima prioridade uma vigorosa resposta dos Estados Unidos à ameaça chinesa, lembrando que o Departamento de Estado recentemente instituiu um gabinete de coordenação de assuntos chineses a fim de articular insumos gerados, dentro e fora da ‘casa’, com vistas a “comunicação, consenso e ação” de diferentes agências do governo em face dessa ameaça. A autora assinala que o “Partido Comunista Chinês está ‘em guerra’ contra os Estados Unidos há décadas” e acrescenta: “Agora, que esta realidade foi aceita pelo governo, o Departamento de Estado deve estar preparado para liderar o esforço diplomático americano de forma condizente” com esse desafio. Isso requer uma mescla de iniciativas de ataque e defesa, de modo a “proteger os cidadãos americanos e seus interesses, bem como os aliados dos Estados Unidos, dos ataques e abusos que comprometem a competitividade, a segurança e a prosperidade” do país. Aparentemente, as democracias avançadas começam a despertar da ilusão de que as reformas pró-mercado, desencadeadas por Deng Xiaoping, e a consequente integração competitiva da China à economia mundial ensejariam significativa liberalização do regime de partido único; nesse sentido, a primeira providência que cabe aos Estados Unidos tomar consiste no reenquadramento da natureza e dos desígnios da RPC “mais como ameaça do que como competição”. Para tanto, o Departamento de Estado e o Conselho de Segurança deveriam produzir documento com fôlego e persuasividade equivalentes ao memorável artigo que, sob o pseudônimo “X”, o diplomata George F. Kennan publicou na revista Foreign Affairs (1947) sobre as bases da conduta soviética, aplicando à China, nas presentes condições Internacionais, uma estratégia de contenção (containment), com resiliência e eficácia análogas às daquela que acabou por levar a União Soviética ao colapso, colocando um ponto final em quase meio século de Guerra Fria. Skinner reconhece que essa reconceituação não será fácil, em vista da constelação de interesses e crenças ainda dominantes em parcelas significativas dos setores público e privado. Muitas desses atores conservam “uma fé [tão] inabalável no sistema internacional e nas normas globais” que não aceitam quaisquer “críticas ou reformas”, muito menos a possibilidade de que essas regras “sejam abusadas pela RPC. Outros se recusam a reconhecer as atividades nocivas de Pequim, frequentemente descartando-as como teorias conspiratórias” (a autora dá como exemplo o liminar rechaço à mínima insinuação de que a Covid19 pode ter ‘vazado’ de algum laboratório chinês). O problema, ela insiste, é que “ações chinesas frequentemente soam como teorias de conspiração porque são conspirações” de fato. Se, por um lado, gigantes empresariais como o fundo “BlackRock e a Disney se beneficiam diretamente dos seus negócios com Pequim”, por outro, algumas autoridades, a despeito de reconhecerem “os perigos colocados pela RPC [. . .], acreditam em um enfoque moderador”, capaz de “acomodar sua ascensão, uma política de ‘competir onde for preciso, mas cooperar onde for possível’, em questões como mudança climática. Essa estratégia claramente fracassou”. Descrendo da possibilidade de a sociedade civil chinesa, entregue aos seus próprios recursos, conseguir alterar o rumo de uma “cultura estratégica” fundamentada em cinco milênios de história “e não apenas no marxismo-leninismo do PCC”, Skinner conclui que a agressividade da República Popular da China “somente pode ser limitada mediante pressão externa”.
Daqui até fim deste ensaio, focalizarei, seletiva e resumidamente, outras das mais importantes sugestões da professora Skinner relativas a regiões e temas sensíveis para a política externa dos Estados Unidos sob um ponto de vista conservador.
Irã – A analista crítica a administração Democrata por não aproveitar o desgaste doméstico da teocracia iraniana, alvo de protestos brutalmente reprimidos, mas, mesmo assim, ressurgentes, desde o “Movimento Verde”, de 2009, para apoiar o povo daquele país em sua luta pela liberdade. Pelo contrário, as administrações Barack Obama e Joe Biden teriam oferecido à república islâmica condições de sobrevida permitindo o prosseguimento do seu programa nuclear e um alívio de sanções econômicas equivalente a centenas de bilhões de dólares. Uma próxima administração Republicana deve reconhecer que a promoção ativa dos direitos humanos dos cidadãos do Irã coincide com os interesses da segurança dos Estados Unidos no Oriente Médio e demais regiões do planeta onde a ditadura dos aiatolás faz frente comum com outros adversários da América (Rússia, China, Venezuela).
Rússia – Reconhecendo que o conflito Rússia X Ucrânia é atualmente o maior pomo de discórdia internacional no seio do conservadorismo americano, Skinner se dispõe a esclarecer os pontos de vista em confronto dentro do establishment Republicano. Uma corrente sustenta que a agressão russa, que já entra no seu terceiro ano, desafia os interesses dos Estados Unidos em uma ordem europeia de paz e estabilidade, o que impõe uma ativa estratégia de assistência aos ucranianos e o fortalecimento dos compromissos militares da América com seus parceiros na Aliança Atlântica, com a finalidade de derrotar o regime de Putin e obrigá-lo a retroceder às fronteiras pré-invasão. Outra corrente discorda de que o apoio à Ucrânia, país com um pesado histórico de corrupção e que não integra a Otan, seja do interesse nacional americano. Para os adeptos dessa corrente, os verdadeiros interessados na defesa da Ucrânia são os seus vizinhos europeus, cabendo-lhes, portanto, incorrer nesse ônus, sem sacrificar o bolso do pagador de impostos americano, muito menos as vidas dos militares dos Estados Unidos. Esse raciocínio conduz a que o melhor cenário possível para o fim do conflito seria a negociação da paz entre Moscou e Kyiv, ainda que isso implique, para os ucranianos, a aceitação dos ganhos territoriais russos decorrentes da invasão.
Finalmente, uma terceira posição busca superar o impasse entre intervencionismo e isolacionismo, em prol de uma estratégia que favoreça a consecução da primeiríssima prioridade de proteger a liberdade e a soberania dos Estados Unidos no contexto de sua rivalidade existencial com a China. Segundo Skinner, isso requer uma cuidadosa calibragem do apoio à Ucrânia, com a assistência americana restrita ao aparelhamento/reaparelhamento militar, enquanto cumpre aos aliados europeus o dever de prestar a ajuda econômica necessária para a reconstrução ucraniana. A autora faz votos de que um(a) próximo(a) presidente conservador(a) possa cortar o nó do atual impasse, abrindo um caminho adiante, inspirado no reconhecimento de que a “China Comunista” é “a ameaça definidora dos interesses dos EUA no século 21”.
Coreia do Norte – Despoticamente governada pela família Kim desde o fim da Segunda Guerra Mundial/início da Guerra Fria, a República Democrática e Popular da Coreia representa uma grave ameaça de agressão nuclear em uma região-chave para a economia internacional. A manutenção da paz e da segurança no Indo-Pacífico requer o compartilhamento das obrigações para a sua defesa entre os Estados Unidos e aliados como o Japão e a Coreia do Sul. A América e seus parceiros estratégicos não devem permitir que o regime norte-coreano continue a “lucrar com suas gritantes violações de compromissos internacionais ou ameaçar seus vizinhos [e o próprio território continental dos Estados Unidos] por meio da chantagem nuclear”, adverte a professora.
Venezuela – Em 24 anos, os governos bolivarianos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro reduziram a população de um país outrora democrático e amigo dos Estados Unidos à miséria mais extrema e continuam reprimindo ferozmente o que restou da oposição, ao mesmo tempo que favorecem carteis do narcotráfico e alimentam um exôdo incessante de refugiados para todo o hemisfério. Graças à ditadura comunista venezuelana, alguns dos maiores adversários dos Estados Unidos ampliam sua presença na América do Sul/Caribe (China, Irã). Skinner conclama um novo governo Republicano a liderar e “unir o hemisfério contra essa ameaça significativa, porém subestimada”.
América Latina e Caribe – As instituições e o governo México estão desmoronando sob a pressão agressiva dos carteis criminosos. Essa desagregação social em ritmo acelerado é uma poderosa causa do atual caos imigratório na fronteira com os Estados Unidos. Os carteis mexicanos estão associados às indústrias chinesas que lhes vendem os insumos para a produção do fentanyl que é, então, exportado para os Estados Unidos, gerando uma devastadora catástrofe de saúde pública. Kiron Skinner recomenda que uma próxima administração Republicana aproveite a oportunidade aberta com o azedamente das relações China/Estados Unidos e a desorganização produtiva global acarretada pela pandemia para incentivar empresas transnacionais americanas a realocarem suas cadeias de suprimentos para nações amigas latino-americanas e caribenhas. Boas oportunidades também poderão surgir na área da segurança energética mediante a integração dos Estados Unidos com seus parceiros hemisféricos, reduzindo a dependência em relação a fontes extracontinentais de combustíveis, sujeitas à manipulação geopolítica.
Oriente Médio e Norte da África – Trata-se de duas regiões tão importantes, do ponto de vista econômico, político ou militar, para os Estados Unidos e seus aliados que a hipótese de desengajamento americano é simplesmente impensável. As prioridades de uma estratégia conservadora para o Oriente Médio e o Norte da África, elencadas por Skinner, são as seguintes: 1) impedir o Irã de se armar com artefatos nucleares e adquirir a capacidade de projetá-los contra seus vizinhos (Israel e países árabes adeptos do islamismo sunita), reinstalando e ampliando as sanções aplicadas pela administração Trump, apoiando, mediante iniciativas de diplomacia pública e outras operações, os movimentos populares iranianos pró-democracia e fornecendo cobertura política e assistência de segurança e defesa aos parceiros regionais de Washington, especialmente Israel, contra o regime xiita de Teerã e seus clientes terroristas, como Hezbollah, Hamas e Jihad Islâmica Palestina; 2) revitalizar os “Acordos de Abraão”, também patrocinados pelo governo Trump, estendendo-os à Arábia Saudita, cujas longas e tradicionais relações com os Estados Unidos sofreram um desgaste durante o governo Biden, o que ensejou avanços diplomáticos de Pequim em direção a Riad; 3) cancelar o financiamento da Autoridade Palestina; 4) manter a Turquia sob a égide da Aliança Atlântica, o que pode exigir uma reconsideração do apoio americano ao Partido dos Trabalhadores Curdos e outros grupos antagônicos ao governo turco; 5) construir um pacto de segurança para o Oriente Médio incorporando Israel, Egito, Estados do Golfo e, talvez, Índia, de modo a assegurar a liberdade de navegação no Mar Vermelho, no Canal de Suez e no Estreito de Hormuz, vias aquáticas vitais para a economia mundial e a prosperidade da América; e 6) cooperar militarmente com a França e outros aliados europeus a fim de conter a expansão do terrorismo islâmico no Norte da África e o crescimento da influência russa por intermédio de organizações mercenárias.
Diplomacia cibernética – À medida que aumenta a importância do ciberespaço como arena de rivalidade entre os Estados Unidos e os regimes exportadores do “autoritarismo digital” (a começar pela China, seguida da Rússia), sua proteção se afigura cada vez mais vital para os Estados Unidos, com base nos valores da democracia e da liberdade de informação. É indispensável defender a internet como “‘domínio aberto, interoperável, seguro, confiável e orientado para o mercado’”, frustrando os desígnios de países que utilizam a rede mundial de computadores “para limitar a oposição e controlar a informação”, além de explorar a abertura dos países democráticos para disseminar propaganda e desinformação. A professora propõe que, paralelamente a encorajar os parceiros democráticos dos Estados Unidos a “estabelecer um firme arcabouço de normas compulsórias para o ciberespaço”, o Departamento de Estado trabalhe em colaboração com o Pentágono numa estratégia ofensiva de dissuasão dos “adversários”, sobretudo em áreas inequivocamente sensíveis como “infraestrutura financeira global, controle nuclear e saúde pública”.
Em contraste com a clareza expositiva e o vigor argumentativo da professora Skinner, as manifestações inarticuladas e ambíguas do trumpismo-raiz em matéria de política externa — com a única exceção sendo o amplo e firme apoio a Israel — deixam o mundo ‘no escuro’ sobre futuro papel internacional do colosso americano, sempre a potência indispensável, goste-se ou não de sua primazia.
Em tempo – Enquanto escrevo, o Senado dos Estados Unidos acaba de aprovar por 62 votos contra 32 a admissibilidade da apreciação de uma versão reduzida do pacote que anteriormente vinculava controle de imigração e assistência militar externa. O foco exclusivo da nova versão é a ajuda de segurança para Ucrânia, Israel e outros aliados. Se aprovado quanto ao mérito, seu valor total será de 95 bilhões de dólares. Dezessete membros da bancada Republicana votaram contra a admissibilidade da matéria, que, depois de emendada pelos senadores, será apreciada pela Câmara de Representantes. Lá, a influência de Donald Trump sobre o GOP em geral é muito forte, pois, diferentemente do Senado, que renova apenas um terço de sua representação a cada biênio, e cujos membros têm mandatos de seis anos, os mandatos de todos os 435 deputados têm que ser confirmados, ou não, de dois em dois anos.