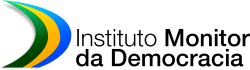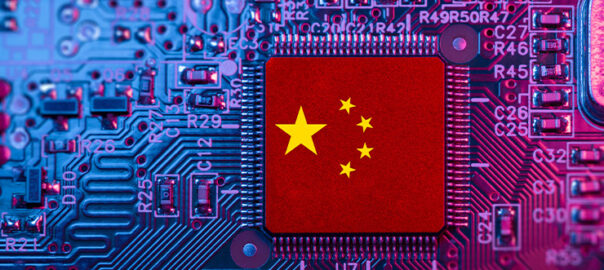Examinemos quatro verdades relativas, tidas e divulgadas falsamente como absolutas, sobre o conflito Israel x Hamas.
1 – A solução para a crise são dois Estados: um de Israel e outro Palestino. Não necessariamente. Só se forem dois Estados democráticos de direito. Mais uma tirania no Oriente Médio (onde já existem dezesseis ditaduras) não resolverá o problema.
2 – A solução para a crise humanitária é um cessar-fogo imediato. Não necessariamente. Se Israel paralisar sua resposta aos ataques terroristas (que continuam) o Hamas ganhará uma trégua para se reorganizar e continuar aterrorizando a população civil israelense (e gerando mais crise humanitária).
3 – Todos os bombardeios de prédios civis com mortes de civis em Gaza violam as leis da guerra. Não necessariamente. Os combatentes do Hamas são civis, não usam uniformes, não ocupam instalações militares e não podem ser distinguidos de civis não combatentes se estiverem no mesmo território.
4 – É necessário fazer uma reforma no Conselho de Segurança, acabando com o poder de veto de algumas potências, para que o ONU recupere seu papel pacificador e tenha capacidade de evitar guerras sangrentas, massacres terroristas e genocídios. Não necessariamente. Como as democracias liberais ou plenas são minoritárias no conjunto de 193 países, as autocracias arriscam ganhar todas as votações em desfavor das democracias.
Passemos agora aos comentários gerais que afetam, direta ou indiretamente, os três primeiros pontos.
Israel tem o direito de autodefesa e o dever de proteger sua população dos ataques terroristas do Hamas. Mas se um cessar-fogo é inaceitável, parece óbvio que, agora, Israel não poderá destruir completamente o Hamas. Não tem condições políticas, nem militares, para fazer isso no curto prazo. Logo, o objetivo da incursão em Gaza deve ser mais realista; por exemplo, o resgate dos reféns feitos pelo Hamas e a destruição de parte do seu arsenal operacional armazenado numa rede imensa de túneis, que ainda ameaça Israel, não a exterminação completa da organização.
O Hamas não pode ser completamente destruído de imediato, em primeiro lugar porque sua ideologia – a do jihadismo ofensivo islâmico que toma como objetivo religioso uma “solução final”: a aniquilação de Israel – não vai desaparecer (e parte significativa da população de Gaza está impregnada dessa ideologia necrófila). Além disso, porque há de fato uma organização (o Hamas) e seus chefes não estão em Gaza e sim protegidos no Catar, no Líbano, na Síria, na Turquia, talvez no Iraque e provavelmente no Irã.
E enquanto isso Israel vai perdendo a guerra da propaganda, uma vez que, ocupando o mesmo território, não há como distinguir os combatentes do Hamas, que são para todos os efeitos civis, dos civis palestinos não combatentes. Todo o ataque de Israel será divulgado como ataque contra civis: não há instalações militares identificáveis em Gaza, os jihadistas não usam uniformes, seus bunkers são prédios civis, em geral escondidos em hospitais, escolas, mesquitas e, inclusive, sedes de organizações humanitárias internacionais.
Mesmo com todo apoio das grandes nações democráticas, Israel não pode aguentar semanas ou meses desse tipo de exposição midiática, que apresenta Israel ao mundo como genocida. O show da vítima, repetido diariamente, com a contabilidade macabra das crianças mortas, das gestantes e dos doentes, dos idosos e das pessoas com necessidades especiais cruelmente assassinados, será devastador.
Os chefes militares israelenses e a extrema-direita nacionalista no governo Bibi podem não gostar disso, mas deverão ser obrigados a engolir a realidade. Claro que, passada a fase mais crítica do conflito, o atual governo de Israel deve ser deposto pelas forças democráticas da própria sociedade israelense, sua política de ocupação da Cisjordânia deve ser radicalmente modificada e deve ser anunciado um plano, ainda que de longo prazo, para a criação do embrião de um Estado democrático de direito na Palestina.
Será muito difícil derrotar o Hamas militarmente se essa organização terrorista não for derrotada politicamente.
Ocorre que o Hamas, além de ter sua direção estratégica mais alta fora de Gaza, como já foi dito, não apenas se esconde na população palestina (usando-a como escudo). Depois de quase duas décadas, o Hamas está relativamente enraizado na sociedade palestina. Sob esse aspecto a comparação do Hamas com o Estado Islâmico é imperfeita.
Seus militantes mais jovens já nasceram sob a ditadura do Hamas. Uma família palestina normal pode não ter nada a ver com o Hamas, mas algum ou alguns dos seus filhos, pode, sim.
São jovens normais, gostam de futebol, têm seus herois imaginários, seus artistas admirados, suas músicas preferidas. Só que neles foi inoculada pelos sacerdotes sunitas do jihadismo ofensivo islâmico uma semente de ódio difícil de ser removida. A explicação padrão que seus professores inocularam para que eles repetissem para si mesmos é que tudo que detestam nas suas vidas, todos os seus carecimentos, sua impossibilidade de viajar e conhecer outros lugares e se relacionar com outras pessoas, de serem quem sonham, enfim, tem uma causa e um conjunto de culpados. A causa é a ocupação de sua terra por Israel e os culpados são os judeus.
Além disso, na medida em que se comprometem com a hierarquia do Hamas, esses jovens passam a ter privilégios, algum dinheiro, passe livre em instituições (inclusive de ensino médio e superior), sobras da ajuda humanitária estrangeira que foi desviada pelos terroristas. Mal-comparando, é como ser recrutado pelo narcotráfico: você vai poder usar aquele tênis bacana, você vai poder desfilar de moto, você vai ganhar por mês o que seus pais não conseguem ganhar em um ano. E vai ser respeitado; ou, pelo menos, temido.
Para quebrar isso sem matar ou prender milhares de pessoas e sem destroçar as famílias só com uma experiência relativamente longa de viver sob outro regime de mais liberdade e igualdade de oportunidades. Para tanto, o Hamas tem que ser derrotado politicamente, sua ditadura tem que ser deposta pela própria população (ainda que sob arbitragem e proteção internacional, inclusive de outros países da região) e um novo governo deve assumir o seu lugar.
Sem isso não há solução, pelo menos uma solução humanamente aceitável – já que o extermínio da sua população, a sua evacuação (para onde?), a sua conversão forçada à democracia (em campos de reeducação) não são saídas admissíveis pelo mundo democrático. Erigir um novo Estado palestino que não seja um Estado democrático de direito – mais uma tirania entre as dezesseis que já povoam o Oriente Médio – não vai resolver o problema. Um proto-Estado autocrático assim já existe em Gaza, onde há governo e esse governo está nas mãos dos terroristas do Hamas.
Nada disso significa, porém, que Israel não deva reagir ao bárbaro ataque terrorista que sofreu no dia 08/10, deixando sua população vulnerável a novas investidas mortíferas do Hamas. Isso seria inexplicável e desumano. Israel tem que eliminar a hierarquia militar jihadista que se esconde em Gaza. Tem que destruir as armas do Hamas (sobretudo seus mísseis e fábricas de mísseis – estejam onde estiverem) e tem que destruir também a imensa infra-estrutura subterrânea que foi construída nos últimos anos (quase um Metrô de Londres): os túneis devem ser lacrados. Como vai fazer isso sem entrar no território de Gaza, gerando vítimas civis, é o problema (e os militantes do Hamas são civis). Mas mesmo que Israel encontrasse uma solução militar para esse problema que não fosse desumana, nada disso bastaria se não encontrasse também uma solução política.
Passemos agora aos comentários sobre o quarto ponto: a ONU.
Como as democracias liberais e plenas são minoria no mundo (no máximo 35 em 193 países), o eixo autocrático (ao qual o governo Lula se alinhou) vai querer propor uma reforma majoritarista na ONU, abolindo o poder de veto no Conselho de Segurança. Se alguma democracia liberal ou plena não tiver poder de veto, as quase 90 autocracias e seus aliados (uma parte do conjunto dos cerca de 60 regimes eleitorais, aquela parte parasitada por populismos, como o Brasil) arriscam ganhar todas as votações por maioria. Por exemplo, poderiam aprovar uma condenação de Israel por genocídio. Ou poderiam decidir que a Ucrânia deveria cessar-fogo em vez de resistir à invasão da Rússia. Obviamente, isso não poderá ser aceito pelo mundo democrático. Se acontecer, será o fim da ONU.
Usar a ONU para validar propaganda é um truque antigo. O sistema das Nações Unidos abriga dezenas de comissões, comitês, agências, programas, fundos, fóruns, institutos de estudo e pesquisa e até uma universidade que não falam pela ONU. Só falam pela ONU a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança (o único com poder decisório) e o Secretariado (que é órgão administrativo, dirigido pelo Secretário-Geral). Além desses, as instâncias orgânicas da ONU são a Corte Internacional de Justiça, o Conselho Econômico e Social e o Conselho de Tutela.
Em abril do ano passado Lula chegou a dizer que foi absolvido pelo “tribunal da ONU”. Não há tribunal da ONU. Foi um parecer do Comitê de Direitos Humanos segundo o qual a investigação e o julgamento de Lula não foram imparciais.
Lula agora declara que Israel matou milhares (arriscou até prever milhões) de crianças em Gaza sem dizer a fonte. Os petistas dizem que foi a ONU. É falso. Provavelmente a informação veio do “Ministério da Saúde” de Gaza, que é um departamento da organização terrorista Hamas. O mesmo lugar de onde saiu a informação fraudulenta – já desmentida – de que Israel havia bombardeado o hospital Ahli Arab deixando cerca de 500 mortos.
Independentemente do viés parcial de muitos analistas há um problema de analfabetismo democrático. Aí a pessoa vai na TV e reclama que tem que reformar o Conselho de Segurança da ONU abolindo o poder de veto de alguns países. Fazer o quê? A pessoa não sabe que as democracias são minoritárias no mundo, que se as decisões forem por voto de maioria as autocracias ganharão todas as disputas.
A pessoa não sabe que na composição atual do Conselho de Segurança existem 6 ditaduras (autocracias eleitorais e fechadas) e apenas 5 democracias liberais (ou plenas).
A pessoa não sabe que se as três democracias liberais que são membros permanentes do Conselho não tivessem poder de veto, as democracias ficariam vulneráveis ao avanço das ditaduras. Por exemplo, a pessoa não sabe que dos 47 países que formam o Conselho de Direitos Humanos da ONU, 70% não são democracias – incluindo autocracias como China, Cuba, Eritreia, Paquistão, Somália, Sudão, Argélia e Emirados Árabes Unidos.
E a pessoa não sabe nada disso não é por maldade. É por ignorância mesmo. Não sabe diferenciar (seguindo a classificação do V-Dem) uma democracia liberal de uma democracia apenas eleitoral, de uma autocracia eleitoral e de uma autocracia fechada. Ou, em outros termos (da The Economist Intelligence Unit), não sabe a diferença entre uma full democracy, uma flawed democracy, um hybrid regime e um authoritarian regime. Ou, ainda (da Freedom House), um regime free, partly free ou not free. Um meio de comunicação profissional deveria fornecer programas de educação política para seus colaboradores.