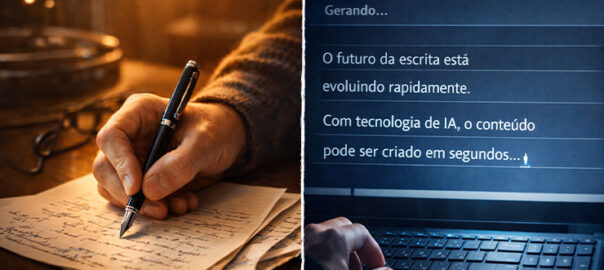A vitória de Sanae Takaichi nas recentes eleições legislativas do Japão não representa apenas uma mudança de guarda no Kantei (nome dado ao escritório oficial e residência do Primeiro-Ministro do Japão), trata-se de um movimento tectônico que encerra o longo ciclo do Japão pós-Segunda Guerra Mundial e inaugura uma era de soberania reafirmada.
O triunfo é histórico sob qualquer métrica quantitativa, com o Partido Democrático Liberal (PDL) conquistando sozinho 316 dos 465 assentos na Câmara de Representantes. Este feito, inédito desde 1945, confere a Takaichi uma supermaioria de dois terços que, somada aos votos do aliado Ishin no Kai, aniquila qualquer barreira legislativa e permite que a nova Primeira-Ministra controle as comissões parlamentares com punho de ferro. A derrota acachapante do Partido de Centro Reformista, que viu sua representação minguar de 172 para meras 49 cadeiras, sinaliza que o eleitorado japonês cansou da ambiguidade centrista e optou por um caminho de clareza ideológica e força estratégica. O que estamos testemunhando é a consolidação de uma liderança que o Japão ansiava: firme, identitária e estrategicamente audaciosa.
O fenômeno Takaichi é sustentado por uma combinação singular de carisma pop e conservadorismo rigoroso. Como a primeira mulher a alcançar o topo do poder político japonês, ela rompeu a barreira de um sistema tradicionalmente gerontocrático e masculino, mas fez isso sem recorrer ao discurso identitário convencional. Em vez disso, conectou-se com a juventude — uma classe historicamente apática no Japão — através de um toque de modernidade e pragmatismo. Ao declarar sua afinidade com o K-pop e a cultura coreana, Takaichi não apenas humanizou sua imagem perante os novos eleitores, como também desarmou críticas de que seu nacionalismo seria anacrônico. O resultado foi um aumento na participação eleitoral para 56,8%, um sinal claro de que sua mensagem de renovação e proteção nacional ressoou profundamente em uma geração que busca um Japão mais vibrante e menos submisso aos traumas do passado.
No campo econômico e social, Takaichi demonstrou uma sensibilidade aguda às angústias imediatas da população sem perder de vista as necessidades de longo prazo. A promessa de eliminar o imposto de consumo sobre alimentos por dois anos foi um golpe de mestre político para combater a inflação galopante, simbolizada pela duplicação do preço do arroz. Embora os críticos apontem para o desafio de abrir mão de 30 bilhões de dólares em receitas em um país com uma dívida pública de 260% do PIB, a estratégia de Takaichi é de um “realismo nacionalista”: estabilizar o custo de vida interno é a pré-condição necessária para obter o suporte popular aos pesados investimentos em defesa que o Japão agora exige. Simultaneamente, sua postura firme em relação ao controle imigratório e à restrição de residências permanentes para estrangeiros reflete um compromisso com a coesão social, alinhando-se a uma tendência global de líderes conservadores que priorizam a preservação da identidade nacional frente às pressões da globalização.
Contudo, é na geopolítica que a ascensão de Takaichi altera de forma mais dramática o balanço de poder na Ásia. Sua vitória é o pior pesadelo de Pequim. Ao classificar uma eventual agressão chinesa a Taiwan como uma questão de “sobrevivência nacional” japonesa, Takaichi retirou o Japão da zona de ambiguidade estratégica. Esse posicionamento pró-Taiwan não foi apenas retórico, foi o motor de sua campanha. O apoio recebido de Donald Trump reforça essa nova arquitetura de poder, onde o Japão deixa de ser um protetorado passivo dos Estados Unidos para se tornar um parceiro operacional de primeira linha. Sob sua liderança, a defesa japonesa já rompeu a barreira histórica de investimento de 1% do PIB e caminha para níveis muito superiores, impulsionada pela necessidade de dissuasão diante do fortalecimento do eixo entre China, Coreia do Norte e Rússia. A clareza de Takaichi sobre Taiwan sinaliza que o Japão está pronto para agir militarmente se o status quo regional for ameaçado, o que obriga a China a recalcular drasticamente qualquer plano de expansão territorial.
O horizonte que se abre para o Japão é de uma transformação constitucional sem precedentes. Com a supermaioria conquistada, Takaichi possui o capital político necessário para convocar o referendo que poderá alterar o Artigo 9º da Constituição, despojando o país de suas amarras pacifistas impostas no pós-guerra. Este movimento transformaria o Japão em uma “nação normal”, capaz de projetar força e garantir a paz através da força, e não apenas da diplomacia passiva. A ascensão da direita antimigrante do Sanseito (partido “alt-right” à japonesa) no Congresso apenas reforça que o espectro político japonês moveu-se para a direita, dando a Takaichi o suporte necessário para navegar os desafios fiscais e demográficos — como o envelhecimento populacional — através de uma visão de Estado forte e centralizado.
A vitória de Sanae Takaichi é, portanto, o amanhecer de um Japão que não mais pede licença para proteger seus interesses. Ela conseguiu unir a nostalgia pela estabilidade com a urgência pela modernização defensiva. No tabuleiro asiático, o recado é nítido: o Japão retornou como um protagonista de peso, disposto a pagar o preço necessário para manter a ordem democrática no Indo-Pacífico e para garantir que o seu sol continue a nascer sem a sombra de potências vizinhas agressoras. Takaichi não é apenas uma Primeira-Ministra, ela é o rosto de um Japão que reencontrou sua vontade de potência e seu senso de destino histórico.