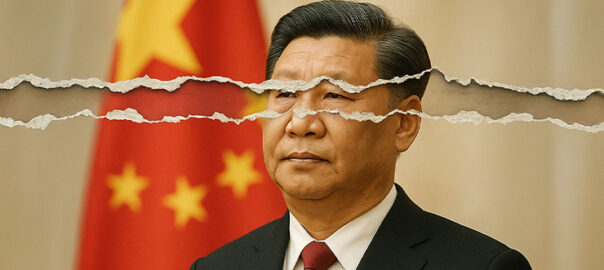Descobrimos então que a COP 30 era muito mais importante para a esquerda populista (de raiz classista ou identitarista) do que imaginamos. Eles jogaram tudo para fazer da COP 30 um tipping point.
Para o governo Lula foi um ato de campanha, pleno de marquetagens: “a maior COP do mundo”, “a COP do povo liderada por Lula” – o guia genial, o grande timoneiro. Basta ver que o último discurso de Lula na COP 30 foi tipicamente eleitoral. Uma fala populista num palanque para dentro. O tal “mapa do caminho” mesmo só teremos… nas próximas COPs. Compromissos com metas necessárias e críveis ocorrerão… nas próximas COPs. Para Lula, o mais importante vem antes: nas urnas de 2026.
Para a esquerda, órfã das grandes narrativas totalizantes do século 20, era para ser uma espécie de “enchente amazônica”, uma “explosão atlântica” onde os excluídos, os condenados da Terra, os povos originários e todas as minorias acordaram (woke) para dizer ao mundo dos ricos que não aceitam mais a situação de injustiça instalada. O climático serviu como um gancho perfeito para o social. Injustiça climática. Exclusão climática. Racismo climático. A discriminação climática é estrutural.
Uma revivescência da luta de classes e da luta contra a discriminação. O início de uma verdadeira revolução social. Uma sublevação do Sul Global. A esquerda agora não só lidera, mas se apropria da causa climática… contra a direita.
Foi aí que apareceu a proposta do Mapa do Caminho para redução das emissões de CO2, lavando a contradição do Brasil querer liderar essa caminhada mantendo a exploração dos combustíveis fósseis. Porque no futuro, ah!, no futuro, não será mais assim. Vamos para o reino da liberdade e da abundância: mas amanhã, não hoje. Sim, vamos extinguir o Estado: mas amanhã, não hoje. Hoje, nós, os socialistas, fortalecemos o Estado para enfraquecê-lo. Mas hoje só amanhã.
(Se você não quiser deixar de fazer alguma coisa julgada reprovável, proponha um “mapa do caminho” para deixar de fazer essa coisa no futuro. Com esse truque você obtém uma licença para continuar fazendo o que não deve. É como uma ditadura prometendo um reino da liberdade amanhã).
O Mapa do Caminho era um mapa para a reeleição de Lula e para o renascimento da esquerda como portadora da salvação universal.
Os países do eixo autocrático e os EUA trumpista, porém, não toparam essa parada. E o mapa ficou sem caminho; ou o caminho ficou sem mapa. A proposta de um plano de ação com etapas e metas para acabar com o uso de petróleo, gás natural e carvão mineral não avançou. China, Índia, Arábia Saudita e Nigéria não aceitam – pelo menos até agora – nenhum texto sobre o tema. E se aceitarem não irão realizar suas prescrições. Sem falar dos EUA, é claro. E da Rússia.
O ambientalismo, parasitado pelos órfãos das narrativas totalizantes do século 20, está alimentando o surgimento de uma militância proto-fundamentalista que passou a assombrar a humanidade com o apocalipse do aquecimento global. Não é que o aquecimento global não seja uma ameaça real. É que tratar isso na base do medo, crucificando como negacionistas climáticos os que não são fiéis do novo credo, instalará uma nova cruzada do bem contra o mal cujos resultados serão nocivos à liberdade.
Entenda-se bem. O problema existe. E não há como resolvê-lo com uma grande vassourada. Como escreveu Quico Toro, o processo COP não funciona porque “imagina as emissões [de CO₂] como algo que o governo de um país pode definir, como o botão de um termostato” (1). Não há como resolver o problema derrotando os negacionistas climáticos e, para tanto, incentivando uma nova polarização em que os militantes ambientalistas vão abrir uma guerra contra os negacionistas climáticos.
Se a chamada esquerda, que sempre se acha do lado do bem, abrir esse tipo de guerra contra a chamada direita negacionista, sempre avaliada, pela esquerda, como estando do lado do mal, isso não contribuirá em nada para resolver o problema.
Não é uma guerra universal que precise ser vencida, com a derrota definitiva dos inimigos incréus para nos salvar do apocalipse. É preciso ver o que se pode fazer agora, a começar pelos nossos atos singulares e precários em todos os âmbitos, das pessoas e comunidades, dos pesquisadores e empreendedores inovadores, das empresas e dos governos dos municípios, regiões e países e das organizações internacionais.
Nota
(1) Como escreveu Quico Toro, em Persuasion (13/11/2025), o processo COP não funciona “porque se baseia em um modelo errado sobre o que determina o nível de emissões de gases de efeito estufa de um país. A COP imagina essas emissões como algo que o governo de um país pode definir, como o botão de um termostato. Mas as emissões são mais parecidas com o PIB: o resultado de um processo complexo que os políticos gostariam de controlar, mas que na realidade não controlam. Assim como o PIB, as emissões climáticas são o resultado cumulativo de bilhões de decisões tomadas por bilhões de atores — negociadores climáticos, empresas de serviços públicos, operadores de redes elétricas, reguladores, políticos, burocratas, banqueiros, investidores, empresas e famílias — cada um dos quais precisa ponderar uma série de compensações. Essas compensações incluem a qualidade do ar e as emissões de carbono, sim, mas também a acessibilidade, a confiabilidade, a soberania, a disponibilidade de recursos naturais e o nível de prontidão tecnológica. Nos países desenvolvidos, o resultado combinado dessas decisões tem sido uma queda gradual das emissões nas últimas duas décadas. Desde o pico em 2007, as emissões de CO₂ dos países desenvolvidos caíram de 15,7 gigatoneladas para 12,9 gigatoneladas em 2023. (Uma gigatonelada equivale a um bilhão de toneladas.) Também em 2023, pela primeira vez, a China emitiu mais dióxido de carbono do que todos os países desenvolvidos juntos. Entre 1970 e 2023, as emissões chinesas cresceram de 7,6 gigatoneladas por ano para 13,3 gigatoneladas por ano, e as emissões do restante do mundo em desenvolvimento aumentaram de 7,9 para 11,7 gigatoneladas. Para cada molécula de CO₂ que os países ricos reduziram suas emissões desde 2007, os países em desenvolvimento emitiram três a mais”.