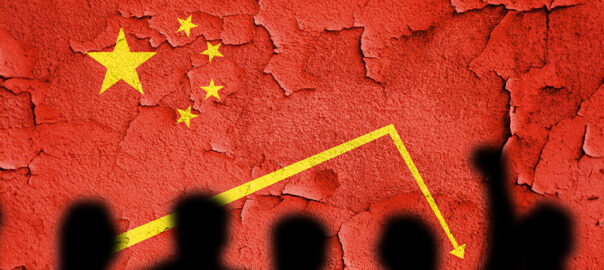Há dois tipos de leitores: aqueles que querem ler o que ainda não sabem, confrontar suas ideias prévias e ampliar sua compreensão das coisas e aqueles que querem ler o que já sabem para ter mais certeza de que estão certos e confrontarem com mais confiança os que pensam diferente.
O debate público no Brasil é majoritariamente protagonizado por esse tipo que quer impôr sua verdade. São pessoas que adotam determinado ponto de vista sobre questões complexas e, em vez de ponderarem sua análise e refinarem sua opinião, apressam-se para encontrar e reproduzir interpretações reducionistas que corroborem a sua estreita visão.
O debate atual em torno de fake news, tentativa de golpe de estado, defesa da democracia, discurso de ódio, liberdade de expressão e seu alegado cerceamento suscita questões para as quais não há resposta rápida, fácil, única e definitiva.
A despeito disso, quando nuances do debate são apresentadas, o analista que ousou não aderir prontamente às narrativas em voga é execrado pela militância com o neologismo de “isentão”, criado pelos radicais que querem evitar a dissidência e homogeneizar o discurso.
Muitos dos que hoje se arrogam defensores da liberdade de expressão são reacionários autoritários que demonizam os seus adversários e que tentariam calá-los se tivessem poder para isso; muitos dos que tiveram suas contas nas redes sociais suspensas usaram-na, de fato, para pregar uma ruptura institucional.
Eles não querem que isso seja dito. Bolsonaristas ficam incomodados quando esses detalhes são trazidos ao debate. Eles querem ir ao exterior denunciar cerceamento da liberdade de expressão no Brasil sem tocar no mérito do tipo de expressão que está sendo cerceada; querem denunciar ao mundo que a democracia brasileira está sob ataque do Judiciário sem fazer menção ao ataque contra a democracia intentado pelo Executivo.
Por outro lado, aqueles que retoricamente se pintam como mais afeitos à democracia também incorrem em fake news, discursos de ódio e manifestações violentas sem que, no entanto, sofram a mesma retaliação jurídica. Se a força da lei só incide sobre o lado A e faz vista grossa para o lado B, quem assim instrumentaliza a lei é quem mais descaracteriza a democracia que diz querer preservar.
O ministro Alexandre de Moraes tomou para si a prerrogativa de vigiar e punir toda e qualquer suposta ameaça à democracia, mas, como bem resumiu Felipe Moura Brasil, ao usar “decisões obscuras em inquéritos viciados para censurar e pôr no mesmo saco publicações legítimas (fato incômodo, crítica, opinião) e criminosas (calúnia, ameaça etc.)” ele “permite que delinquentes virtuais se limpem na sujeira dele, em nome da liberdade de expressão”.
A democracia brasileira é ainda precária, frágil e disfuncional. Sua engrenagem atual retroalimenta um Estado corrupto que mantém um sistema de privilégios. O que havia de melhor nela era a liberdade que tínhamos para denunciar, criticar e, assim, manter a esperança de reformá-la gradualmente. Agora, porém, sob o pretexto de preservar o regime que torna a liberdade possível, a liberdade possível de criticar o regime está sendo minada.
Há intolerantes de ambos os lados, esquerda e direita, que querem homogeneizar o discurso, calar a oposição e, para piorar, há juízes censores que querem o poder de editar esse debate extremamente polarizado e caótico.
Política e verdade
Apesar da impaciência que talvez o estimado leitor possa ter com a filosofia e a literatura, tendo em vista a urgência política, teimarei em finalizar esse texto trazendo para a conversa uma filósofa e um poeta.
Para Hannah Arendt, a pretensão de verdade absoluta no âmbito político é uma pretensão tirânica porque política é lugar de doxa (opinião) e não de episteme (conhecimento teórico absoluto e rígido). Não deve haver verdade dogmática no âmbito político, mas há um outro tipo de verdade que a política não pode negligenciar: a verdade factual.
O fato é a matéria bruta da opinião e a opinião é a matéria-prima da política. Não se deve confundi-los. Quando uma opinião é considerada fato e um fato é considerado mera opinião, o pensamento político representativo e plural perde a sua base de apoio.
A opinião, diz Arendt, requer a verdade factual como suporte e a própria “liberdade de opinião é uma farsa, a não ser que a informação factual seja garantida.”
A mentira ou, em linguagem mais atual, a disseminação de fake-news é, pois, um problema ou um desafio a ser enfrentado pela democracia. Ocorre, porém, que a censura não resolve e ainda piora o problema.
Como já foi dito, as controversas decisões censórias do ministro Alexandre de Moraes incorreram no grave erro de não fazer as devidas distinções entre fato, opinião, fake news e incitação ao crime.
Analisar é separar, distinguir. Diante da dificuldade de assim proceder, optou-se pela via fácil da repetição, generalização e ausência de fundamentação das decisões. Para não deixar passar nada, o ministro censurou tudo. Ao fazê-lo, violou direitos e garantias fundamentais de alguns cidadãos.
Milton contra Moraes
As redes sociais trazem novos desafios às sociedades democráticas, que são, antes de tudo, sociedades plurais e abertas, nas quais há heterogeneidade, profusão de discursos, conflito de ideias, oposição e dissenso. A polêmica atual em torno da regulamentação das redes favorece uma rápida digressão final, na forma de retorno a um clássico liberal.
Em 1644, John Milton publicava Areopagítica, um opúsculo contra a pretensão do parlamento inglês de reestabelecer a censura. Nessa obra, Milton tentou mostrar que a determinação do verdadeiro e do falso, do que deve ser publicado ou suprimido, não pode estar nas mãos de poucos homens que são, em geral, de juízo vulgar. Sua argumentação mais forte, porém, aponta para o valor intrínseco da liberdade.
A censura é ruim não apenas porque é ineficaz no combate ao erro e ao vício, mas porque viola a liberdade, que é um valor positivo e necessário para o progresso do conhecimento. A censura impede que, no confronto com o erro, a verdade possa emergir, uma vez que a verdade e a falsidade precisam lutar para que a primeira venha a se estabelecer, ainda que provisoriamente. Milton já apontava, portanto, a necessidade do pluralismo para o progresso da coletividade e registrava sua rejeição à autoridade dos censores.
Optar pela censura é o mesmo que dizer que as pessoas devem ser tratadas como crianças necessitadas de tutela. “Serão elas levianas, imorais, sem formação sólida, doentes, debilitadas, num estado de tão pouca fé e fraco discernimento que não seriam capazes de engolir nada que não passasse pelo filtro de um censor?”, pergunta John Milton, em 1644.
Seremos os brasileiros tão ingênuos, infantilizados, manipuláveis e ignorantes que não somos capazes de julgar por nós mesmos uma postagem em rede social sem precisar do filtro do censor Alexandre de Moraes? Perguntamos nós, em 2024.