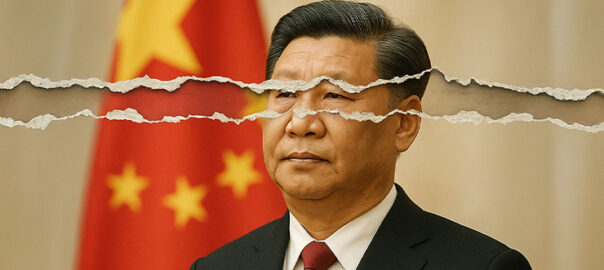A Operação Contenção — a maior da história do Rio de Janeiro, com mais de 120 mortos e o envolvimento de 2.500 policiais — trouxe o problema da expansão do crime organizado para o debate público de maneira incontornável.
Enquanto helicópteros sobrevoavam o Complexo do Alemão e da Penha, drones explosivos, barricadas incendiadas e fuzis transformavam a cidade em uma zona de guerra, levando o Brasil para manchetes do noticiário internacional.
Se os que padecem sob o jugo tirânico das facções criminosas nas comunidades e periferias já conheciam o enorme poder de facções como o Comando Vermelho, penso que a maioria da classe média do país, embora ciente do problema, não atinava ainda para a dimensão real do problema.
A repercussão do confronto entre policiais e criminosos no Rio trouxe novamente à tona uma clivagem ideológica no país, além de deixar transparecer a fragilidade de certas narrativas.
A palavra soberania, por exemplo, tão ecoada ultimamente pelo governo Lula, devido às tarifas e sanções impostas pelos EUA ao Brasil, se volta agora contra aqueles mesmos que dela tanto se utilizaram com afetação nacionalista.
De fato, como falar em soberania quando o Estado não detém o monopólio da força, mas o divide com criminosos que têm seu próprio “tribunal” e impõe suas “leis” em território no qual a população mais pobre vive como refém?
Aqueles que, em nome dos Direitos Humanos, se mostram tão preocupados com os alvos da ação policial, acaso mostram a mesma preocupação com os moradores da comunidade cujo direito de ir e vir é rotineiramente suspenso por barricadas?
Aqueles que apontam “barbárie” na ação da polícia contra o Comando Vermelho não consideram barbárie as torturas perpetradas contra moradores inocentes e contra rivais como prática sistemática de punição e controle territorial?
Aqueles que acusam a polícia de agir seletivamente contra “pobres” se solidarizaram com os milhares de pobres expulsos de suas próprias casas pelas facções?
O êxodo imposto pelas facções teve um crescimento espantoso no meu estado, Ceará, há mais de dez anos governado pelo Partido dos Trabalhadores. Uma reportagem recente da mídia local dá conta de que as facções criminosas expulsaram moradores de pelo menos 49 bairros de Fortaleza.
Em entrevista no papo Antagonista, o ex-capitão do Bope, Rodrigo Pimentel, comentou algo que foi motivo de indignação aqui em Fortaleza: a polícia não garantiu a segurança para que os moradores continuassem em suas próprias casas após receberem ameaças das facções, mas garantiu escolta para que abandonassem suas casas em segurança.
Certa noite, em setembro, eu estava em casa com meu filho quando sobreveio o barulho de uma expressiva e inusitada queima de fogos que durou vários minutos. Ele se agitou um pouco, eu fechei as janelas. Imaginei que era alguma vitória de time de futebol, Fortaleza ou Ceará. No outro dia, li que tinha sido a celebração do Comando Vermelho pela conquista de novo território.
Foi também aqui, em Fortaleza, o caso da cozinheira executada a facadas e tiros na frente dos seus filhos, por membros do Comando Vermelho, por ter se recusado a envenenar a comida de policiais. Esses e outros crimes de uma violência bárbara tornaram-se cada vez mais comuns.
O caso do Ceará mostra que o crime organizado está se expandindo com força total para todo o Brasil e que não se trata mais de problema restrito ao Rio de Janeiro.
Ao dar visibilidade a isso, a Operação Contenção forçou a sociedade a se posicionar. A questão lançada é a seguinte: o brasileiro comum quer que o Estado continue fazendo vista grossa para a expansão do crime organizado ou quer que ele seja efetivamente enfrentado?
Para espanto de boa parte da bolha esquerdista, as pesquisas apontaram claramente a disposição do brasileiro para o enfrentamento.
Segundo o instituto AtlalIntel, 62,2% da população da cidade do Rio de Janeiro e 55,2% da população brasileira aprovaram a Operação Contenção.
O dado mais significativo, porém, é que, entre os moradores de favelas do Rio, 87,6% aprovaram a operação e entre os moradores de favelas do Brasil, a aprovação foi de 80,9%.
Esses dados mostram uma enorme dissonância entre o discurso da elite progressista em nome dos pobres e o que os pobres realmente desejam para si.
“Massacre”, “genocídio”, “barbárie policial”, “extermínio de pobres”, escreveram os especialistas progressistas, e pulularam notas de condenação à operação que sequer mencionavam o nome Comando Vermelho, como se policiais do BOPE, entediados, tivessem resolvido subir o morro para matar pobres por diversão, como se jogassem uma partida de vídeo game.
A deputado Jandira Fechali (PCdoB/RJ) escreveu no X que “é possível combater o crime sem dar um tiro”.
Uma professora da UFF, ouvida como “especialista em segurança pública” tornou-se chacota nacional devido às suas análises do tipo: “um criminoso com um fuzil na mão é facilmente rendido por uma pistola e até por uma pedra na cabeça”.
A intelligentsia progressista prestou solidariedade à professora e colocou o deboche na conta de misoginia e do preconceito contras cabelos laranjas, optando por permanecer descolada da realidade.
Como costuma acontecer no Brasil, o debate que deveria ser técnico e estratégico — como recuperar o território, como enfraquecer o poder das facções, como preservar vidas inocentes — foi tragado por paixões políticas.
Uma análise dos discursos expõe também o simplismo das duas visões de mundo extremistas que tentam moldar a política e se impor à sociedade: a que tende a ver o criminoso como vítima da sociedade e a que o vê como encarnação do mal a ser sumariamente executado.
Ambas as posições são confortáveis porque dispensam a complexidade. A primeira dissolve a culpa individual no sistema; a segunda apaga a necessária linha de contenção do Estado.
O humanitarismo da esquerda transformou-se em uma moral de absolvição. O traficante, o ladrão, o homicida tornam-se “vítimas do sistema”, enquanto o sistema — um ente abstrato e sempre culpado — substitui a responsabilidade pessoal.
Em nome da “justiça social” a narrativa da esquerda absolve os algozes dos pobres e condena a polícia que tenta assegurar o direito básico à segurança
Mas a direita não fica atrás em cegueira quando rotula toda e qualquer crítica a abusos policiais como “defesa de bandido”. Já há políticos brasileiros querendo viajar para El Salvador para aprender o modus operandi de Nayib Bukele.
Quando o poder público celebra o número de mortos como troféu, é preciso ficar alerta. Gosto daquela frase de Nietzsche, em “Para além de bem e mal”: “Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro”.
Certamente há uma posição mais sóbria entre o humanismo de gabinete e o punitivismo de palanque.
Não estamos mais diante de delinquência comum, mas de forças organizadas com comando, hierarquia, território, armamento pesado e vínculos econômicos com o Estado. O Brasil vive, ainda que não o reconheça oficialmente, uma forma de guerra civil.
O Comando Vermelho e o PCC são poderes paralelos com estrutura administrativa, logística e capacidade de arrecadação. Controlam serviços, impõem tributos, administram conflitos e exercem soberania sobre milhões de brasileiros.
Em várias regiões, são o único poder presente. O Estado, por omissão e covardia, cedeu o território e contentou-se com discursos e propaganda.
O governo federal culpa os estados; os estados culpam o Supremo; o Supremo culpa a polícia; a polícia culpa as leis. E o crime, em meio disso, se expande.
A Operação Contenção, no entanto, nos fez enxergar. Enxergar que a guerra já começou, que a soberania já foi fragmentada e que a segurança pública não deve ser teatro ideológico porque é questão de sobrevivência civilizacional.