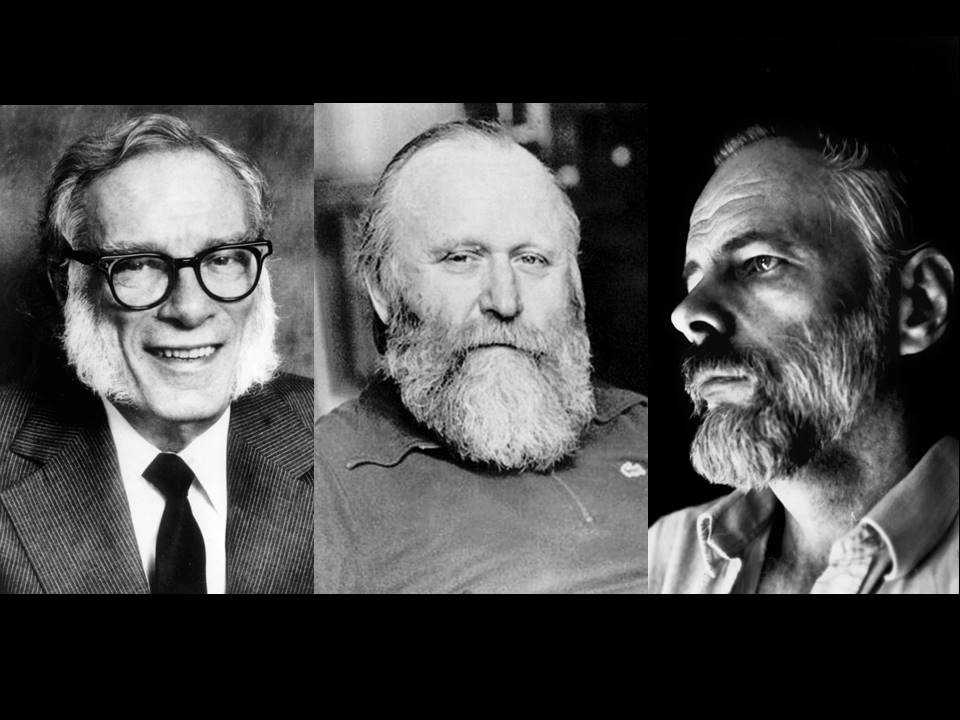Este artigo é um briefing de um estudo, ainda em andamento, sobre as relações entre o tamanho das populações de países e territórios e a democracia.
População. Usamos aqui a lista de 234 países e territórios dependentes elaborada pelas Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Divisão de População. World Population Prospects: The 2024 Revision (variante de fertilidade média). A fonte é: Worldometer População por país.
Democracia. Usamos aqui os relatórios de democracia do V-Dem e, quando necessário, da The Economist Intelligence Unit (EIU) e da Freedom House (FH). O V-Dem e a EIU não avaliam regimes de países pequenos (com menos de 100 mil habitantes), mas a FH sim (alguns).
Algumas observações iniciais
1 – Todos os onze regimes avaliados pela FH nos países com menos de 100 mil habitantes – Antigua e Barbuda, Seychelles, Andorra, Dominica, Ilhas Marshall, São Cristóvão e Névis, Monaco, Liechtenstein, San Marino, Tuvalu, República de Nauru – são considerados livres (Free Countries). São, na verdade, cidades. Quando o país é independente e pequeno (menos de 100 mil habitantes), não há nenhuma ditadura: nem autocracia fechada ou eleitoral (V-Dem), regime autoritário ou mesmo regime híbrido (EIU) ou parcialmente livre (FH).
2 – A população média das 32 democracias liberais que existem no mundo de hoje (segundo o V-Dem 2024) é de 33 milhões de habitantes (e isso porque o Japão, com mais de 120 milhões e EUA, com quase 350 milhões, desequilíbram a média); ou seja, entre uma Austrália (quase 27 milhões) e um Canadá (pouco menos de 40 milhões de habitantes). Sem Japão e EUA (a soma das populações das outras 30 democracias liberais seria 591.171.189): a média daria cerca de 20 milhões (19.705.706); ou seja, um Chile.
3 – Nos 16 países grandes (com mais de 100 milhões de habitantes) e gigantes (como mais de 1 bilhão) só há 2 democracias liberais (Japão e EUA). O restante é, majoritariamente, composto por ditaduras (autocracias fechadas, como a China ou autocracias eleitorais, como a Índia e a Rússia) e, ainda, por regimes eleitorais não-autoritários e não-liberais, parasitados por populismos (como México e Brasil).
Para dar uma exemplo (“aleatório”). Dos 14 países e territórios na casa dos 5 milhões de habitantes (Dinamarca, Singapura, Líbano, Finlândia, Libéria, Noruega, Eslováquia, Cisjordânia, República Centro Africana, Oman, Irlanda, Nova Zelândia, Mauritânia e Costa Rica), temos 6 democracias liberais, 2 democracias eleitorais, 5 autocracias eleitorais e 1 autocracia fechada. A maioria é composta por democracias. Dos 16 países com mais de 100 milhões de habitantes (Índia, China, EUA, Indonésia, Paquistão, Nigéria, Brasil, Bangladesh, Rússia, Etiópia, México, Japão, Egito, Filipinas, República Democrática do Congo e Vietnam) temos 2 democracias liberais, 3 democracias eleitorais, 9 autocracias eleitorais e 2 autocracias fechadas. A maioria é composta por ditaduras.
4 – Se tomarmos, em vez das 32 democracias liberais do V-Dem, as 24 democracias plenas (full democracies) da The Economist Intelligence Unit (EIU) 2023 – Noruega, Nova Zelândia, Islândia, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Irlanda, Suíça, Holanda, Taiwan, Luxemburgo, Alemanha, Canadá, Austrália, Uruguai, Japão, Costa Rica, Áustria, Reino Unido, Grécia, Maurício, Coreia do Sul, França, Espanha – veremos que a população média das democracias plenas é de cerca de 26 milhões de habitantes (incluíndo o Japão, que é um país grande em termos populacionais, mas não os EUA, que já são, há bastante tempo, uma flawed democracy, segundo a EIU). Ou seja, democracias plenas são, majoritariamente, países pequenos (menos de 50 milhões de habitantes) e a concentração é em torno de 5 a 20 milhões de habitantes.
Aqui é preciso esclarecer algo sobre os levantamentos do V-Dem
O V-Dem classifica os regimes em quatro tipos: 1) Democracia Liberal, 2) Democracia Eleitoral, 3) Autocracia Eleitoral e 4) Autocracia Fechada. Exemplos nas Américas. Do primeiro tipo: EUA, Canadá, Barbados, Costa Rica, Suriname, Chile e Uruguai. Do segundo tipo: Panamá, Honduras, República Dominicana, Paraguai, Colômbia, Brasil. Do terceiro tipo: El Salvador, Venezuela, Nicarágua. Do quarto tipo: Cuba. Mas o que o V-Dem enquadra na categoria (dúbia, como veremos) de Democracia Eleitoral são os regimes eleitorais não-autoritários e não-liberais. Se não fossem eleitorais seriam do quarto tipo. Se fossem autoritários, sendo eleitorais, seriam do terceiro tipo. Se fossem liberais seriam do primeiro tipo.
Todavia a mesma categoria (Democracia Eleitoral, compreendendo regimes eleitorais não-autoritários e não-liberais) admite dois tipos de regimes em termos de comportamento político. Há democracias eleitorais formais e democracias eleitorais parasitadas por governos ou oposições (ou ambos) populistas. Para dar exemplos, agora só da América Latina, temos as democracias eleitorais formais da República Dominicana, da Guatemala, do Panamá, da Guiana e temos democracias eleitorais parasitadas por governos populistas de direita (El Salvador) e de esquerda (México, Honduras, Bolívia, Colômbia e Brasil). No caso do Brasil temos governo populista de esquerda e oposição majoritária populista de direita. No caso dos EUA não temos governo populista, mas temos oposição majoritária populista de direita.
Qual é a relevância dessa distinção (que o V-Dem não faz)? É que democracias eleitorais se comportam de modo diferente no que tange à possibilidade de democratização ou autocratização da democracia. Se não estiverem parasitadas por populismos têm mais chances de dar prosseguimento ao processo de democratização, convertendo-se em democracias liberais. Se estiverem parasitadas por populismos ficam sob risco de paralisar o processo de democratização ou entrar em transição autocratizante.
Hipótese de trabalho (provisória)
Com exceção de EUA e Japão, nenhum país grande (com mais de 100 milhões de habitantes) é uma democracia liberal. Sem exceção, nenhum país gigante (com mais de 1 bilhão de habitantes) é uma democracia, seja liberal ou apenas eleitoral. Com exceção de Coréia do Sul, Itália, França, Reino Unido e Alemanha, nenhum país médio (com mais de 50 milhões de habitantes) é uma democracia liberal. As democracias liberais se concentram em países pequenos (com populações menores do que 20 milhões de habitantes). Isso talvez tenha a ver com a dificuldade de realizar o princípio liberal da democracia – a possibilidade de a sociedade controlar o Estado – em países gigantes, em países muito grande e grandes e até em países médios. Embora a quantidade não seja a única variável relevante, suspeita-se que isso deva ter a ver com o fluxo de capital social, ou seja, com a estrutura e a dinâmica da rede social (nada a ver com mídia social) nesses países. Uma variante dessa hipótese é que talvez (mas, por enquanto, só talvez) isso ocorra porque – em localidades menores – há mais chances de prevalência de uma dinâmica comunitária. Isso poderia ser uma indicação (ou uma corroboração) de que a democracia – além de ter nascido em uma cidade – é propriamente mesmo um tipo de regime mais adequado à cidades.
Classificação dos países por tamanho da população e regimes políticos
Classificamos os 234 países e territórios por tamanho da população em oito categorias:
Nanos = Menos de 10 mil habitantes (8 países)
Micros = Mais de 10 mil e menos de 100 mil habitantes (28 países)
Muito pequenos = Mais de 100 mil e menos de 1 milhão (38 países)
Pequenos = Mais de 1 milhão e menos de 10 milhões (65 países)
Médios = Mais de 10 milhões e menos de 50 milhões (64 países)
Grandes = Mais de 50 milhões e menos de 100 milhões (15 países)
Muito grandes = Mais de 100 milhões e menos de 1 bilhão (14 países)
Gigantes = Mais de um bilhão de habitantes (2 países)
NANOS | 8 países e territórios com menos de 10 mil habitantes
Tuvalu 9,646 – Regime Livre (Freedom House)
Saint Pierre & Miquelon 5,628
Saint Helena 5,237
Montserrat 4,389
Falkland Islands 3,470
Tokelau 2,506
Niue 1,819
Holy See (Vaticano) 496 – Autocracia Fechada (é uma teocracia, embora não haja monitoramento).
MICROS | 28 países e territórios com mais de 10 mil e menos de 100 mil habitantes
Antigua and Barbuda 93,772 – Regime Livre (Freedom House)
U.S. Virgin Islands 84,905
Isle of Man 84,160
Andorra 81,938 – Regime Livre (Freedom House)
Cayman Islands 74,457
Dominica 66,205 – Regime Livre (Freedom House)
Bermuda 64,636
Greenland 55,840
Faeroe Islands 55,400
Saint Kitts & Nevis 46,843 – Regime Livre (Freedom House)
American Samoa 46,765
Turks and Caicos 46,535
Northern Mariana Islands 44,278
Sint Maarten 43,350
Liechtenstein 39,870 – Regime Livre (Freedom House)
British Virgin Islands 39,471
Gibraltar 39,329
Monaco 38,631 – Regime Livre (Freedom House)
Marshall Islands 37,548 – Regime Livre (Freedom House)
San Marino 33,581 – Regime Livre (Freedom House)
Caribbean Netherlands 30,675
Saint Martin 26,129
Palau 17,695
Anguilla 14,598
Cook Islands 13,729
Nauru 11,947 – Regime Livre (Freedom House)
Wallis & Futuna 11,277
Saint Barthelemy 11,258
MUITO PEQUENOS | 38 países e territórios com mais de 100 mil e menos de 1 milhão de habitantes
Fiji 928,784 – Democracia Eleitoral
Réunion 878,591
Comoros 866,628 – Autocracia Eleitoral (V-Dem), Regime Autoritário (EIU)
Guyana 831,087 – Democracia Defeituosa (EIU)
Solomon Islands 819,198
Bhutan 791,524 – Democracia Liberal
Macao 720,262
Luxembourg 673,036 – Democracia Liberal
Montenegro 638,479 – Democracia Eleitoral
Suriname 634,431 – Democracia Liberal
Western Sahara 590,506
Malta 539,607 – Democracia Eleitoral
Maldives 527,799 – Democracia Eleitoral
Micronesia 526,923
Cabo Verde 524,877 – Democracia Eleitoral
Brunei 462,721
Belize 417,072
Bahamas 401,283
Iceland 393,396 – Democracia Liberal
Guadeloupe 375,106
Martinique 343,195
Vanuatu 327,777
Mayotte 326,505
French Guiana 308,522
New Caledonia 292,639
Barbados 282,467 – Democracia Liberal
French Polynesia 281,807
Sao Tome & Principe 235,536
Samoa 218,019
Curaçao 185,482
Saint Lucia 179,744
Guam 167,777
Kiribati 134,518
Seychelles 130,418 – Democracia Liberal
Grenada 117,207
Aruba 108,066
Tonga 104,175
St. Vincent & Grenadines 100,616
PEQUENOS | 65 países e territórios com mais de 1 milhão e menos de 10 milhões de habitantes
Hungary 9,676,135 – Autocracia Eleitoral
Togo 9,515,236 – Autocracia Eleitoral
Israel 9,387,021 – Democracia Eleitoral (decaiu de Democracia Liberal: pais em guerra)
Austria 9,120,813 – Democracia Eleitoral
Belarus 9,056,696 – Autocracia Eleitoral
Switzerland 8,921,981 – Democracia Liberal
Sierra Leone 8,642,022 – Autocracia Eleitoral
Laos 7,769,819 – Autocracia Fechada
Turkmenistan 7,494,498 – Autocracia Fechada
Hong Kong 7,414,909 – Autocracia Fechada (por ter sido incorporado à China)
Libya 7,381,023 – Autocracia Fechada
Kyrgyzstan 7,186,009 – Autocracia Eleitoral
Paraguay 6,929,153 – Democracia Eleitoral
Nicaragua 6,916,140 – Autocracia Eleitoral
Bulgaria 6,757,689 – Democracia Eleitoral
Serbia 6,736,216 – Autocracia Eleitoral
El Salvador 6,338,193 – Autocracia Eleitoral
Congo 6,332,961 – Autocracia Eleitoral
Denmark 5,977,412 – Democracia Liberal
Singapore 5,832,387 – Autocracia Eleitoral
Lebanon 5,805,962 – Autocracia Eleitoral
Finland 5,617,310 – Democracia Liberal
Liberia 5,612,817 – Democracia Eleitoral
Norway 5,576,660 – Democracia Liberal
Slovakia 5,506,760 – Democracia Eleitoral
State of Palestine 5,495,443 – Autocracia Eleitoral
Central African Republic 5,330,690 – Autocracia Eleitoral
Oman 5,281,538 – Autocracia Fechada
Ireland 5,255,017 – Democracia Liberal
New Zealand 5,213,944 – Democracia Liberal
Mauritania 5,169,395 – Autocracia Eleitoral
Costa Rica 5,129,910 – Democracia Liberal
Kuwait 4,934,507 – Autocracia Fechada
Panama 4,515,577 – Democracia Eleitoral
Croatia 3,875,325 – Democracia Eleitoral
Georgia 3,807,670 – Democracia Eleitoral
Eritrea 3,535,603 – Autocracia Fechada
Mongolia 3,475,540 – Democracia Eleitoral
Uruguay 3,386,588 – Democracia Liberal
Puerto Rico 3,242,204
Bosnia and Herzegovina 3,164,253 – Democracia Eleitoral
Qatar 3,048,423 – Autocracia Fechada
Moldova 3,034,961 – Democracia Eleitoral
Namibia 3,030,131 – Democracia Eleitoral
Armenia 2,973,840 – Democracia Eleitoral
Lithuania 2,859,110 – Democracia Eleitoral
Jamaica 2,839,175 – Democracia Eleitoral
Albania 2,791,765 – Democracia Eleitoral
Gambia 2,759,988 – Democracia Eleitoral
Gabon 2,538,952 – Autocracia Eleitoral
Botswana 2,521,139 – Democracia Eleitoral
Lesotho 2,337,423 – Democracia Eleitoral
Guinea-Bissau 2,201,352 – Autocracia Eleitoral
Slovenia 2,118,697 – Democracia Eleitoral
Equatorial Guinea 1,892,516 – Autocracia Eleitoral
Latvia 1,871,871 – Democracia Liberal
North Macedonia 1,823,009 – Democracia Eleitoral
Bahrain 1,607,049 – Autocracia Fechada
Trinidad and Tobago 1,507,782 – Democracia Eleitoral
Timor-Leste 1,400,638 – Democracia Eleitoral
Estonia 1,360,546 – Democracia Liberal
Cyprus 1,358,282 – Democracia Eleitoral
Mauritius 1,271,169 – Democracia Eleitoral
Eswatini 1,242,822 – Autocracia Fechada
Djibouti 1,168,722 – Autocracia Eleitoral
MÉDIOS | 64 países e territórios com mais de 10 milhões e menos de 50 milhões de habitantes
Spain 47,910,526 – Democracia Liberal
Algeria 46,814,308 – Autocracia Eleitoral
Iraq 46,042,015 – Autocracia Eleitoral
Argentina 45,696,159 – Democracia Eleitoral
Afghanistan 42,647,492 – Autocracia Fechada
Yemen 40,583,164 – Autocracia Fechada
Canada 39,742,430 – Democracia Liberal
Poland 38,539,201 – Democracia Eleitoral
Morocco 38,081,173 – Autocracia Fechada
Angola 37,885,849 – Autocracia Eleitoral
Ukraine 37,860,221 – Autocracia Eleitoral (decaiu de Democracia Eleitoral: país em guerra, invadido e parcialmente ocupado)
Uzbekistan 36,361,859 – Autocracia Fechada
Malaysia 35,557,673 – Democracia Eleitoral
Mozambique 34,631,766 – Autocracia Eleitoral
Ghana 34,427,414 – Democracia Eleitoral
Peru 34,217,848 – Democracia Eleitoral
Saudi Arabia 33,962,757 – Democracia Fechada
Madagascar 31,964,956 – Autocracia Fechada
Côte d’Ivoire 31,934,230 – Autocracia Eleitoral
Nepal 29,651,054 – Democracia Eleitoral
Cameroon 29,123,744 –Autocracia Eleitoral
Venezuela 28,405,543 – Autocracia Eleitoral
Niger 27,032,412 – Autocracia Eleitoral
Australia 26,713,205 – Democracia Liberal
North Korea 26,498,823 – Autocracia Fechada
Syria 24,672,760 – Autocracia Fechada
Mali 24,478,595 – Autocracia Fechada
Burkina Faso 23,548,781 – Autocracia Fechada
Taiwan 23,213,962 – Democracia Liberal
Sri Lanka 23,103,565 – Autocracia Fechada
Malawi 21,655,286 – Democracia Eleitoral
Zambia 21,314,956 – Democracia Eleitoral
Kazakhstan 20,592,571 – Autocracia Eleitoral
Chad 20,299,123 – Autocracia Fechada
Chile 19,764,771 – Democracia Liberal
Romania 19,015,088 – Democracia Eleitoral
Somalia 19,009,151 – Autocracia Fechada
Senegal 18,501,984 – Democracia Eleitoral
Guatemala 18,406,359 – Democracia Eleitoral
Netherlands 18,228,742 – Democracia Liberal
Ecuador 18,135,478 – Democracia Eleitoral
Cambodia 17,638,801 – Autocracia Eleitoral
Zimbabwe 16,634,373 – Autocracia Eleitoral
Guinea 14,754,785 – Autocracia Fechada
Benin 14,462,724 – Autocracia Eleitoral
Rwanda 14,256,567 – Autocracia Eleitoral
Burundi 14,047,786 – Autocracia Eleitoral
Bolivia 12,413,315 – Democracia Eleitoral
Tunisia 12,277,109 – Autocracia Eleitoral
South Sudan 11,943,408 – Autocracia Fechada
Haiti 11,772,557 – Autocracia Fechada
Belgium 11,738,763 – Democracia Liberal
Jordan 11,552,876 – Autocracia Fechada
Dominican Republic 11,427,557 – Democracia Eleitoral
United Arab Emirates 11,027,129 – Autocracia Fechada
Cuba 10,979,783 – Autocracia Fechada
Honduras 10,825,703 – Democracia Eleitoral
Czech Republic (Czechia) 10,735,859 – Democracia Liberal
Sweden 10,606,999 – Democracia Liberal
Tajikistan 10,590,927 – Autocracia Eleitoral
Papua New Guinea 10,576,502 – Autocracia Eleitoral
Portugal 10,425,292 – Democracia Eleitoral
Azerbaijan 10,336,577 – Autocracia Eleitoral
Greece 10,047,817 – Democracia Eleitoral
GRANDES | 15 países com mais de 50 milhões e menos de 100 milhões de habitantes
Iran 91,567,738 – Autocracia Fechada
Turkey 87,473,805 – Autocracia Eleitoral
Germany 84,552,242 – Democracia Liberal
Thailand 71,668,011 – Autocracia Eleitoral
United Kingdom 69,138,192 – Democracia Liberal
Tanzania 68,560,157 – Autocracia Eleitoral
France 66,548,530 – Democracia Liberal
South Africa 64,007,187 – Democracia Eleitoral
Italy 59,342,867 – Democracia Liberal
Kenya 56,432,944 – Democracia Eleitoral
Myanmar 54,500,091 – Autocracia Fechada
Colombia 52,886,363 – Democracia Eleitoral
South Korea 51,717,590 – Democracia Liberal
Sudan 50,448,963 – Autocracia Fechada
Uganda 50,015,092 – Autocracia Eleitoral
MUITO GRANDES | 14 países com mais de 100 milhões e menos de 1 bilhão de habitantes
United States 345,426,571 – Democracia Liberal
Indonesia 283,487,931 – Democracia Eleitoral
Pakistan 251,269,164 – Autocracia Eleitoral
Nigeria 232,679,478 – Autocracia Eleitoral
Brazil 211,998,573 – Democracia Eleitoral
Bangladesh 173,562,364 – Autocracia Eleitoral
Russia 144,820,423 – Autocracia Eleitoral
Ethiopia 132,059,767 – Autocracia Eleitoral
Mexico 130,861,007 – Democracia Eleitoral
Japan 123,753,041 – Democracia Liberal
Egypt 116,538,258 – Autocracia Eleitoral
Philippines 115,843,670 – Autocracia Eleitoral
DR Congo 109,276,265 – Autocracia Eleitoral
Vietnam 100,987,686 – Autocracia Fechada
GIGANTES | 2 países com mais de 1 bilhão de habitantes
India 1,450,935,791 – Autocracia Eleitoral
China 1,419,321,278 – Autocracia Fechada