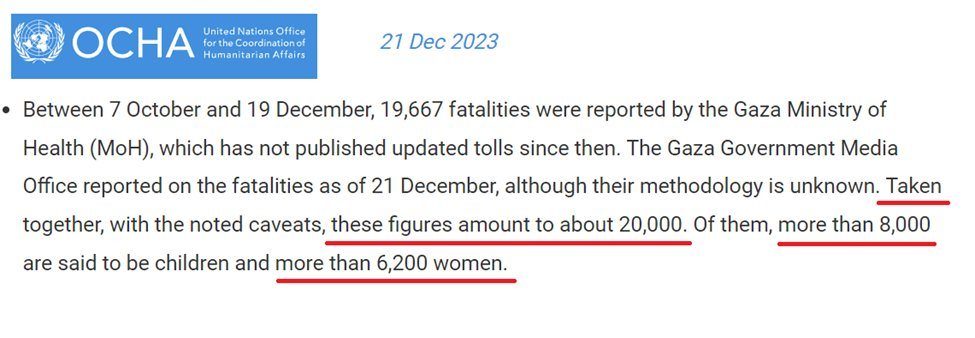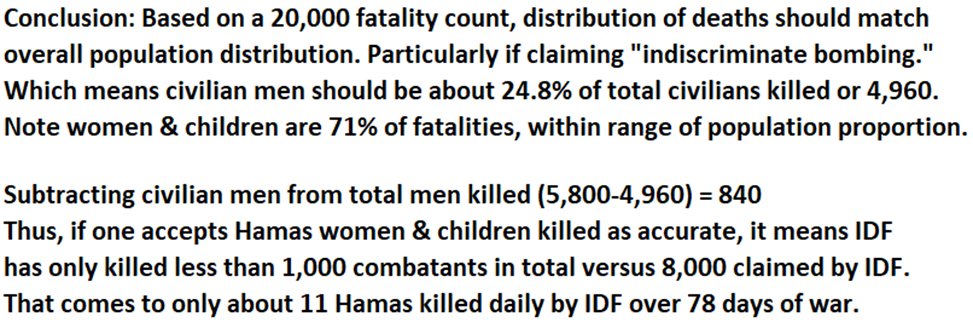Após o escândalo do envolvimento direto de doze funcionários da UNRWA no massacre de 7 de outubro, o seu diretor, Philippe Lazzarini, anunciou, em comunicado de imprensa, que tinha rescindido o contrato desses funcionários. Antonio Guterres, secretário-geral da ONU, por sua vez, confirmou que doze pessoas são alvo de investigação e nove foram despedidas.
Pronto? A demissão dos funcionários que estavam diretamente envolvidos com o Hamas por acaso reverte todo a teia de relações indiretas da UNRWA com o terror? Não. Por isso é preciso que todo o mundo livre pare imediatamente de financiar essa organização cúmplice do terrorismo islâmico.
Finalmente, após a divulgação do dossiê que mostra que doze funcionários com folha de pagamento na ONU estavam envolvidos no massacre perpetrado pelo Hamas, catorze países anunciaram que suspenderiam os seus pagamentos à essa organização que se diz humanitária. Entre esses países estão Alemanha, Canadá, Grã-Bretanha, Itália, Estados Unidos, Japão, etc.
Diga-me quem financias
E o Brasil? Desconfio que não faça mais parte do tal mundo livre, dada a sua escancarada simpatia por ditaduras e teocracias. Vide suas companhias no Brics. Diga-me com quem andas e quem financias, e eu te direi que tipo de regime és.
Nosso país já doou, desde 2008, o equivalente a 20 milhões de dólares para UNRWA (conforme informação dada pelo Itamaraty, em resposta a um pedido de Crusoé). O Ministério de Relações Exteriores afirmou ainda que o governo brasileiro mantém o compromisso histórico de apoio a essa organização da ONU.
Não surpreende que o Brasil vá na contramão dos países que decidiram fechar a torneira do dinheiro ante a cumplicidade escancarada dessa organização com o terror. Conforme nota da Crusoé, um dia depois que a ONG UN Watch divulgou um relatório mostrando que vinte funcionários da UNRWA comemoraram o massacre de 7 de outubro em suas redes sociais, Celso Amorim, assessor da Presidência da República declarou:
“Uma contribuição financeira simbólica à UNRWA está sendo feita imediatamente. Uma contribuição mais substancial está sendo preparada e será anunciada em breve.”
UNRWA é pior do que você pensa
Brendan O´Neill publicou, em 29 de janeiro, na revista Spiked, um artigo intitulado A UNRWA é pior do que você pensa, no qual expõe a hipocrisia e a perversão daqueles que passaram “o Dia Memorial do Holocausto aplaudindo uma organização cujos membros são acusados de massacrar judeus”.
Enquanto toda a gente acendia velas para os seis milhões de judeus assassinados pelos nazis, os militantes de woke faziam campanhas na internet “para elogiar e até angariar fundos para um grupo cujos funcionários são suspeitos de massacrar judeus”, escreveu O´Neill, referindo-se ao movimento da classe ativista que recorreu ao X para angariar apoio para a UNRWA em resposta à suspensão das doações por parte da Grã-Bretanha e de outras nações, fato que coincidiu com o dia internacional da lembrança do Holocausto, 27 de Janeiro.
A atitude dos EUA, Reino Unido, Austrália e outros países de suspenderem o fluxo de dinheiro para a UNRWA enquanto as autoridades investigam o envolvimento do seu pessoal com um grupo terrorista que massacrou milhares de pessoas é bastante racional, justificável e legítima. A esquerda woke, porém, não pensa assim. Eles berram que a UNRWA é ótima e essencial para o bem-estar dos palestinos.
Para eles todos todos os governos que suspenderam as doações são agora cúmplices do “genocídio” de Israel. Eis “as profundezas obscuras do duplo discurso em que a esquerda agora mergulhou: expressar preocupação sobre as possíveis ligações de um grupo ao terrorismo genocida é “genocida”; tentar manter o seu dinheiro fora dos bolsos de pessoas que supostamente ajudaram a coordenar o pior ato de violência racista do século XXI é “racista”. Guerra é paz, liberdade é escravidão, não querer que os judeus sejam massacrados é fascismo. O contorcionismo moral é doloroso”, escreve o analista político britânico.
23% dos funcionários
A verdade, exposta não apenas nesse artigo da Spiked, mas denunciada também aqui em muitos artigos publicados em O Antagonista, é que a UNRWA está há muito comprometida moral e politicamente.
Conforme noticiou a Crusoé, o jornal americano Wall Street Journal publicou nesta segunda, 29 de janeiro, uma reportagem afirmando que 23% dos funcionários homens da UNRWA têm conexões com terroristas do Hamas ou da Jihad Islâmica.
A Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina se vende como parte da solução para a guerra no Oriente Médio quando, na verdade, ela é um dos grandes problemas.
Criada em 1949 com o pretexto de ajudar os refugiados palestinos gerenciando o acesso à educação, saúde e ajuda alimentar, a UNRWA se tornou uma hidra que supervisiona vastas áreas da vida social em Gaza, centralizando a distribuição da assistência humanitária, mas que atua principalmente na área educacional, gerenciando 715 escolas para mais de meio milhão de meninos e meninas em Gaza, na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental, na Síria, no Líbano e na Jordânia.
Parece um trabalho bonito não é? A fachada de humanitarismo, porém, recobre a gravidade de uma doutrinação nefasta que retroalimenta no coração dos palestinos o ódio contra os judeus, inclinando jovens, geração após geração, a um fundamentalismo que inviabiliza qualquer projeto de paz naquela região.
Doutrinação e terror
Além das acusações específicas contra os 12 referidos funcionários que teriam participado ativamente do ataque de 7 de outubro de 2023, as autoridades israelenses também acusam a agência da ONU de distribuir livros escolares a crianças palestinas contendo incitamento à violência e ao ódio contra os judeus. Segundo a ONG Impact-SE, os livros contêm inúmeras frases como “Sionistas são terroristas” ou “como cortar o pescoço do inimigo”.
Essas denúncias, porém, não são novas. Quando o antigo presidente dos EUA, Donald Trump, cortou o financiamento dos EUA à UNRWA, em 2018, já havia uma série de indicações de que a instituição não evitava a propagação do radicalismo islâmico.
Tanto é assim que, quando o presidente Joe Biden renovou o financiamento em 2021, assinou-se um documento de Cooperação no qual foi estabelecido que o financiamento contínuo dos EUA exigia que a UNRWA implementasse várias reformas, incluindo o combate ao incitamento ao ódio e ao antissemitismo no seu currículo educacional, exigindo a neutralidade do seu pessoal e garantindo que as instalações da UNRWA não seriam utilizados por organizações terroristas e o seu pessoal não estaria afiliado a elas. Temos a certeza agora de que essa reforma não foi efetivada.
Em matéria publicada em 2021 na revista americana Foreign Policy, lemos o seguinte:
“Quase 60 por cento do orçamento anual de cerca de 1 bilhão de dólares da UNRWA é atribuído a programas educativos que pretendem ensinar às crianças valores de paz, tolerância e resolução não violenta de conflitos. No entanto, de acordo com vários estudos sobre o currículo palestino, ministrado pela UNRWA nos territórios palestinos, a agência está muito aquém desse objetivo. Os manuais retratam os judeus como inimigos do Islã, glorificam os chamados mártires que morreram enquanto cometiam ataques terroristas e promovem a jihad para a libertação da Palestina histórica, incluindo áreas firmemente dentro das fronteiras de Israel anteriores a 1967, como Jaffa e Haifa. Os mapas da região não incluem o estado de Israel, que em todo o currículo é referido como “a Ocupação Sionista”.
Livros didáticos
A referida matéria aborda um relatório divulgado em Junho de 2021, financiado pela União Europeia e conduzido pelo Instituto Georg Eckert para a Investigação Internacional de Livros Didáticos, que examinou 172 livros escolares palestinos utilizados nas escolas da UNRWA.
O relatório mostra que uma aula de educação islâmica do 5º ano, por exemplo, pede aos alunos que discutam as “repetidas tentativas dos judeus de matar o Profeta” e depois pede-lhes que pensem em “outros inimigos do Islã”.
Outra lição do 5º ano é sobre Dalal Mughrabi, autora do massacre da Estrada Costeira de 1978, um dos piores ataques terroristas da história de Israel, que matou 38 civis israelenses, incluindo 13 crianças. A lição sobre ela diz: “Nossa história palestina está repleta de muitos nomes de shuhada (mártires) que sacrificaram suas vidas pela pátria, incluindo a shahida (mártir) Dalal Mughrabi, cuja luta assumiu a forma de desafio e heroísmo, o que tornou sua memória imortal em nossos corações e mentes”.
O relatório concluiu que “não são apresentados mais retratos de figuras femininas significativas na história palestina”, pelo que “o caminho da violência parece implicitamente ser a única opção para as mulheres demonstrarem um compromisso notável para com o seu povo e o seu país”.
As pedras
Já o livro de estudos sociais do 7º ano propaga a teoria da conspiração de que Israel removeu pedras de locais antigos em Jerusalém e substituiu-as por pedras com desenhos e formas sionistas. Um livro de educação islâmica do 9º ano apresenta passagens sobre a jihad e “a sabedoria por trás da luta os infiéis”,
O currículo fora das ciências sociais também é preenchido com linguagem violenta e glorificação dos militantes. Uma aula de gramática do 6º ano, por exemplo, inclui a frase “defenderemos a pátria com sangue”. Uma lição da 8ª série ensina aos alunos que “a Jihad é uma das portas para o Paraíso”.
Desde 2021 já se sabia que vários funcionários da UNRWA faziam parte do Hamas e que muitos deles publicavam conteúdos violentos e antissemitas nas redes sociais, com alguns elogiando Adolf Hitler.
Em uma infeliz declaração, após o massacre de 7 de outubro, o secretário-geral da ONU, o socialista António Guterres, afirmou: “É importante reconhecer também que os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo”. Ele tem razão. Não aconteceram no vácuo. O mundo deu tempo e dinheiro demais para que o fundamentalismo se incrustasse nas mentes infantis e o mal fermentasse sob o olhar hipócrita e cúmplice da organização que ele representa.