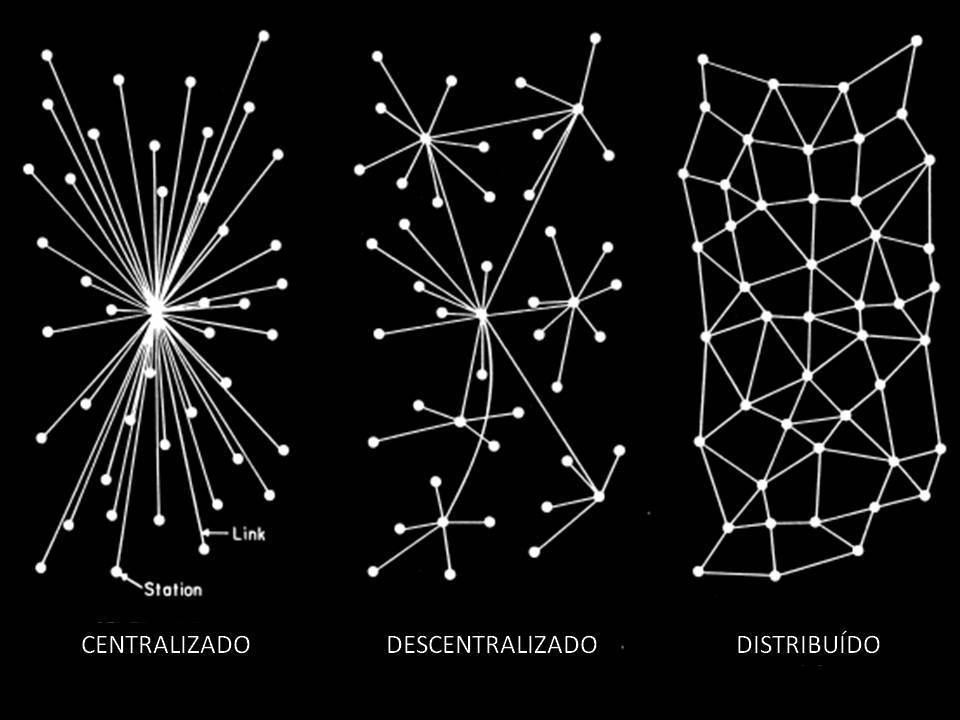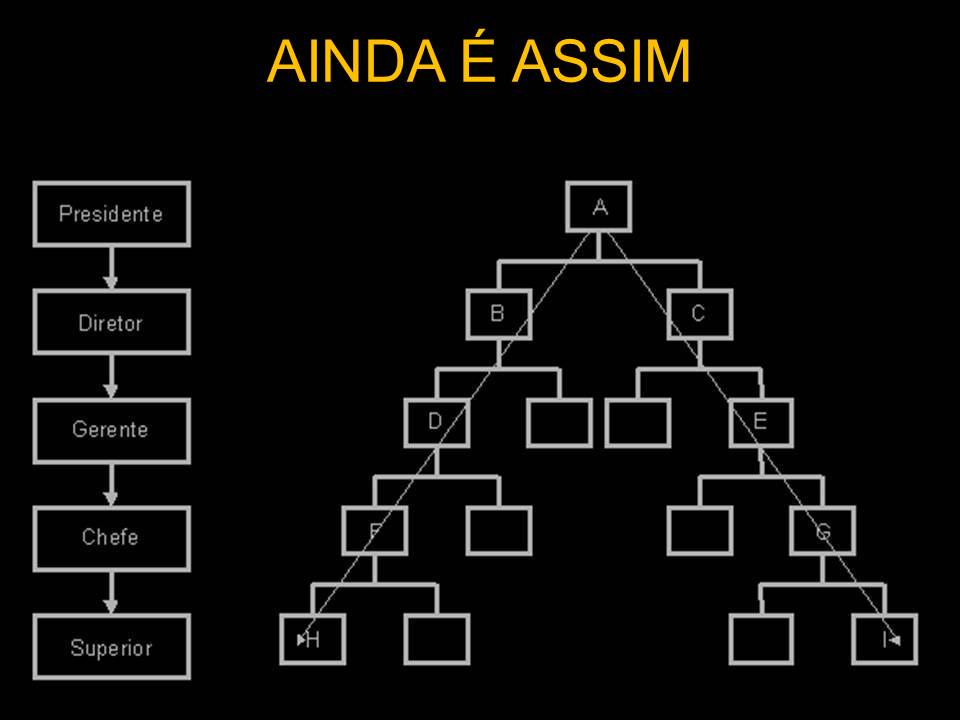Por que bolsononaristas e lulopetistas não são democratas (no sentido pleno ou liberal do termo).
Este pode ser o manual de todo aquele que os populistas (de direita e de esquerda) chamam de “isentão”
Vamos falar a verdade. Bolsonaristas e lulopetistas usam o regime eleitoral, mas não são democratas no sentido liberal ou pleno do termo. Eis aqui as razões, na forma de um decálogo que pode servir como um verdadeiro manual do isentão.
Mas atenção! Isso não vale para simples eleitores de Bolsonaro ou de Lula e sim para militantes das seitas que ambos lideram.
1 – Democratas se opõem e resistem a qualquer tirania (seja de direita ou de esquerda).
➡️ Bolsonaristas se opõem à ditaduras de esquerda (como a Venezuela), mas contemporizam com ditaduras de direita (como a Hungria).
➡️ Lulopetistas, por sua vez, se opõem a ditaduras de direita (como El Salvador), mas contemporizam com ditaduras de esquerda (como Cuba).
➡️ Bolsonaristas e lulopetistas, aliás, contemporizam, ambos, com ditaduras que estão na vanguarda do eixo autocrático (como a Rússia).
2 – Democratas não praticam a política como continuação da guerra por outros meios (e por isso recusam o majoritarismo, o hegemonismo e o “nós contra eles”).
➡️ Bolsonaristas e lulopetistas tratam adversários como inimigos, buscando deslegitimá-los como players válidos e destruí-los ou exterminá-los.
3 – Democratas não querem destruir nenhum sistema ou ‘modo de produção’ supostamente responsável por todo mal que assola a humanidade.
➡️ Bolsonaristas são reacionários (antissistema) disfarçados de conservadores.
➡️ Lulopetistas são, em boa parte, revolucionários (anticapitalistas) travestidos de progressistas.
4 – Democratas se dedicam a fermentar o processo de formação de uma opinião pública democrática. Não querem conduzir massas. São o fermento, não a massa.
➡️ Bolsonaristas e lulopetistas se dedicam a arrebanhar massas para seguir um líder salvador do povo (ou do que chamam de democracia).
5 – Democratas não são populistas, não acham que a sociedade está atravessada por uma única clivagem que opõe o povo (o “verdadeiro povo”, composto pelos que os seguem) às elites (ou ao sistema).
➡️ Bolsonaristas são populistas-autoritários (ou nacional-populistas) como Trump, Orbán, Modi, Bukele, Ventura, Abascal, Wilders, Weidel, Salvini, Le Pen, Farage.
➡️ Lulopetistas são neopopulistas como Obrador-Sheinbaum, Manoel-Xiomara Zelaya, Petro, Evo-Arce, Lula, Ramaphosa. E defendem populistas de esquerda (ou socialistas) que viraram ditadores como Lourenço, Chávez-Maduro, Daniel-Murillo Ortega.
6 – Democratas não reduzem a democracia à eleições.
➡️ Bolsonaristas e lulopetistas dizem-se democratas porque adotam a via eleitoral, mas usam as eleições contra a democracia, não como um metabolismo normal do regime político e sim como instrumento para empalmar o poder e nele se delongar.
7 – Democratas tomam a liberdade e não a ordem como sentido da política (e é nesse sentido originário do termo que podem se dizer liberais).
➡️ Bolsonaristas acham que o sentido da política é a ordem, por isso querem implantar uma ordem supostamente mais condizente com a natureza, com a natureza humana (seja lá o que for) ou com a vontade divina.
➡️ Lulopetistas também acham que o sentido da política é a ordem, uma ordem mais justa, mais consonante com as leis da história e praticam a política como uma guerra para implantar essa ordem – preconcebida por eles – ex ante à interação.
➡️ Bolsonaristas são iliberais.
➡️ Lulopetistas são não liberais.
8 – Democratas respeitam o Estado democrático de direito, não violam as leis escritas e procuram se adequar às normas não escritas que garantem a vigência dos critérios da legitimidade democrática (a liberdade, a eletividade, a publicidade ou transparência, capaz de ensejar uma efetiva accountability, a rotatividade ou alterância, a legalidade e a institucionalidade).
➡️ Bolsonaristas violam as leis escritas e, não raro, são golpistas (querem destruir as instituições que compõem o que chamam de “o sistema”).
➡️ Lulopetistas, quando obedecem às leis escritas, violam as normas não escritas que garantem a legitimidade democrática e, não raro, são hegemonistas (não querem destruir as instituições e sim ocupá-las e fazer maioria em seu interior para colocá-las a serviço de seu projeto de conquista de hegemonia sobre a sociedade a partir do Estado aparelhado pelo partido para se delongar no governo por tempo suficiente para alterar, por dentro, o “DNA” da democracia).
9 – Democratas trabalham para universalizar a cidadania, mas não confundem democracia com cidadania, não acham que a igualdade socioeconômica seja precondição para a liberdade política, defendem os direitos das minorias (inclusive das minorias políticas).
➡️ Bolsonaristas não priorizam a cidadania, acham que as leis devem ser feitas para a maioria e não respeitam os direitos das minorias sociais e políticas.
➡️ Lulopetistas usam a democracia realmente existente, mas querem construir outro tipo de regime (supostamente) democrático, onde a democracia seja redefinida como cidadania para todos (ou para a ampla maioria) ofertada pelo Estado quando nas mãos certas (ou seja, nas mãos dos progressistas), a redução das desigualdades socioeconômicas (operada, é claro, pelo Estado nas mãos certas) seja condição para a fruição das liberdades civis, os direitos políticos sejam iguais para todas as minorias (menos para as minorias políticas que não sejam progressistas, isto é, os conservadores estarão fora).
10 – Democratas são pluralistas, nos sentidos social e político do termo.
➡️ Bolsonaristas são antipluralistas nos sentidos social e político do termo. Almejam um tipo de regime autocrático em que as pessoas não apenas ajam sob comando, mas pensem sob comando segundo valores que consideram conservadores (mas que, na verdade, são reacionários): família (monogâmica), deus (ou religião), pátria (na acepção nacionalista), ordem como sentido da política (e a defesa do pensamento “lei e ordem”), aumento do uso da força policial como solução para o “problema da violência”, anticomunismo, antiparlamentarismo, racismo, misoginia, xenofobia, a volta a um passado (idealizado) onde a vida, supostamente, era melhor.
➡️ Lulopetistas são antipluralistas no sentido político do termo. Querem conquistar hegemonia sobre a sociedade a tal ponto que as pessoas tenham as ideias “certas” sem necessidade de comando explícito segundo valores que consideram progressistas (mas que, em boa parte, são revolucionários: anticapitalistas): a ordem (“mais justa”) – e não a liberdade – como sentido da política, antiliberalismo, estatismo, a crença numa imanência histórica, na existência de leis da história que podem ser conhecidas por quem tem a teoria verdadeira ou o método correto de interpretação da realidade e a luta de classes (ou a luta identitária: a afirmação da diferença convertida em separação) como motor da história, a igualdade (ou a redução da desigualdade) socioeconômica como pré-condição para a liberdade (ou para a igualdade política), a equivalência entre democracia e cidadania (ou a redução da democracia à cidadania para todos) e a fuga para um futuro (idealizado) onde a vida, supostamente, será melhor.